A brincadeira
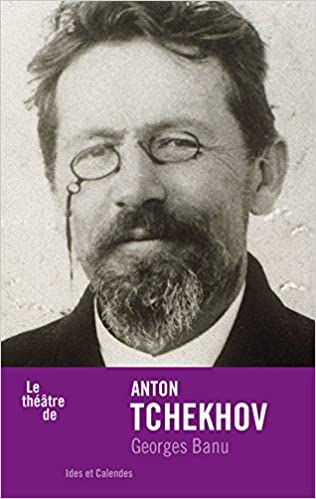
Um claro dia de inverno… o frio é forte e seco de estalar, e Nádenka, que eu levo pelo braço, fica com os cachos das fontes e o buço no lábio superior orvalhados de prata cintilante. Estamos no cume de um morro alto. Diante dos nossos pés, até a planície, lá embaixo, estende-se um declive escorregadio e brilhante no qual o sol se mira como um espelho. Ao nosso lado está um trenó pequenino, forrado de pano vermelho-vivo.
— Deslizemos até lá em baixo, Nadêjda Petrovna! – imploro eu. — Só uma vez! Garanto-lhe, ficaremos sãos e salvos!
Mas Nádenka tem medo. Toda essa extensão, desde as suas pequeninas galochas até o fim da montanha de gelo, se afigura a ela como um terrível abismo de profundidade imensurável. Ela fica tonta e perde o fôlego, só de olhar lá para baixo, quando eu apenas lhe proponho sentar-se no trenó – que terá então se ela arriscar despenhar-se no precipício? Ela morrerá, enlouquecerá!
— Eu lhe suplico! – digo eu. — Não tenha medo! Compreenda, isso é fraqueza, é covardia!
Nádenka cede, finalmente, e eu vejo pelo seu rosto que ela cede com receio pela própria vida. Acomodo-a, pálida e trêmula, no trenó, sento-me, enlaço-a com o braço e junto com ela precipito-me no abismo.
O trenó voa como uma bala. O ar cortado chicoteia o rosto, silva nos ouvidos, bate, belisca raivoso até doer, quer arrancar a cabeça dos ombros. A pressão do vento tolhe a respiração. É como se o próprio diabo nos tivesse agarrado com as suas patas, e, urrando, nos arrastasse para o inferno. Os objetos que nos cercam fundem-se num só longo risco, que corre vertiginoso. Parece, um instante mais, e estaremos perdidos!
— Eu te amo, Nádia! – digo eu a meia voz.
O trenó começa a deslizar mais devagar, mais devagar, os uivos do vento e os zumbidos das lâminas do trenó já não são tão terríveis, a respiração já não é tão ofegante, e, finalmente, chegamos ao fim. Nádenka está mais morta do que viva. Está pálida, mal consegue respirar. Eu a ajudo a se levantar.
— Nunca mais farei isto – diz ela, encarando-me com os olhos dilatados, cheios de terror. – Por coisa alguma do mundo! Por pouco não morri!
Logo depois, ela volta a si e já me fita com um olhar interrogador: terei sido eu quem disse aquelas quatro palavras, ou foi apenas uma alucinação dentro do zunido da ventania? Mas eu estou calado diante dela, fumando e examinando com atenção a minha luva.
Ela toma o meu braço e passeamos longos minutos diante do morro. O problema, visivelmente, não a deixa em paz. Foram pronunciadas aquelas palavras, ou não? Sim ou não? Sim ou não? É uma questão de amor-próprio, de honra, de vida, de felicidade, uma questão muito importante, a mais importante do mundo. Nádenka perscruta o meu rosto com olhares impacientes, tristes, penetrantes, responde atabalhoadamente, espera que eu fale. Oh, que jogo de emoções neste rosto encantador, que jogo! Vejo que ela luta consigo mesma, que precisa dizer alguma coisa, perguntar, mas não encontra palavras, está encabulada, amedrontada, embargada pela alegria…
— Sabe duma coisa? – diz ela, sem olhar para mim.
— O quê? – pergunto eu.
— Vamos mais uma vez… deslizar pelo morro.
Subimos para o cume, pela escada. De novo faço Nádenka, pálida e trêmula, sentar no trenó, de novo nos despencamos no precipício medonho, de novo uiva o vento e zunem as lâminas, e de novo, quando o voo do trenó está no auge do ímpeto, eu digo a meia voz:
— Eu te amo, Nádenka!
Quando o trenó se detém, Nádenka lança um olhar para o morro que acabamos de descer voando, depois perscruta longamente o meu rosto, escuta, atenta, a minha voz indiferente e calma, e toda ela, toda, até mesmo o regalo de peles e o capuz, toda a sua figurinha, exprime extrema perplexidade. E no seu rosto está escrito: “Mas o que é que está acontecendo? Quem pronunciou aquelas palavras? Foi ele, ou foi engano dos meus ouvidos?”.
Esta incerteza a perturba, a impacienta. A pobre menina não responde às minhas perguntas, franze a testa, está prestes a romper em choro.
— Não preferes ir para casa? – pergunto eu.
— Mas eu… eu gosto destas… descidas – diz ela, enrubescendo. Não quer deslizar mais uma vez?
Ela “gosta” destas descidas, e, no entanto, sentando-se no trenó ela, como das outras vezes, fica pálida, ofegante de medo, trêmula.
Descemos pela terceira vez, e eu vejo como ela fita o meu rosto, como observa os meus lábios. Mas eu aperto o lenço contra a boca, tusso, e quando chegamos ao meio do declive, deixo escapar:
— Eu te amo, Nádia!
E a charada continua charada! Nádenka se cala, está pensando… Acompanho-a para casa, ela procura andar mais devagar, atrasa o passo, espera sempre que eu lhe diga aquelas palavras. E eu vejo como sofre sua alma, como ela tem que se esforçar para não dizer: “Não pode ser que tenha sido o vento! E eu não quero que tenha sido o vento quem falou aquilo!”.
No dia seguinte de manhã, recebo um bilhetinho: “Se o senhor vai ao morro hoje, venha me buscar. N.”. E desde essa manhã, comecei a ir com Nádenka ao morro, todos os dias e, voando encosta abaixo, no trenó, eu pronuncio, cada vez, a meia voz, as mesmas palavras:
— Eu te amo, Nádia!
Logo Nádenka acostuma-se a esta frase, como ao vinho e à morfina. Não pode viver sem ela. É verdade – voar montanha abaixo lhe dá medo, como antes, mas já agora o medo e o perigo adicionam um encanto especial às palavras sobre o amor, as palavras que, como dantes, constituem uma charada e oprimem a alma. São sempre os mesmos dois suspeitos: eu e o vento… Qual dos dois lhe declara o seu amor, ela não sabe, mas, ao que parece, isto já não lhe importa mais; não importa o vaso em que se bebe, importa ficar embriagada!
Um dia, fui até o morro sozinho; misturei-me à multidão e vi como Nádenka chegou até o sopé, como me procurou com os olhos… E depois, timidamente, ela sobe os degraus… Ela tem medo de ir sozinha, oh, quanto medo! Está pálida como a neve, treme e vai, como se fosse para o cadafalso, mas vai, vai sem olhar para trás, com decisão. Pelo visto, ela resolveu, finalmente, tirar a prova: será que se farão ouvir aquelas palavras estranhas, quando eu não estiver junto? E vejo como ela, lívida, com a boca entreaberta de horror, toma assento no trenó, fecha os olhos, e, despedindo-se para sempre do mundo, o põe em movimento… “zzzzzz…” zunem as lâminas. Ouvira Nádenka aquelas palavras? Não sei… Vejo apenas como ela se levanta do trenó, exausta, fraca. E vê-se pelo seu rosto que nem ela mesma sabe se ouviu alguma coisa ou não. O pavor, enquanto ela voava morro abaixo, roubou-lhe a capacidade de ouvir, de distinguir os sons, de entender…
Mas eis que chega o mês de Março, primaveril… O sol torna-se mais carinhoso. O nosso morro de gelo escurece, perde o seu brilho e se derrete, afinal. Acabaram os passeios de trenó. A pobre Nádenka já não tem mais onde ouvir aquelas palavras, e nem há quem as pronuncie, pois o vento não se ouve mais, e eu me preparo para voltar a Petersburgo – por muito tempo, quiçá para sempre.
Uma vez, pouco antes de partir, uns dois dias, estava eu sentado, ao crepúsculo, no jardinzinho, separado do pátio onde mora Nádenka por uma cerca alta de madeira. Ainda faz bastante frio, debaixo do lixo ainda há neve, as árvores ainda estão mortas, mas já cheira à primavera, e, preparando-se para a noitada, as gralhas fazem grande algazarra. Aproximo-me da cerca e espio pela fresta. E vejo como Nádenka sai para os degraus e fixa o olhar tristonho e saudoso no firmamento. O vento da tarde sopra-lhe no rosto pálido e desanimado… Ele lembra-lhe aquele outro vento, que uivava lá no morro, quando ela ouvia aquelas quatro palavras, e seu rosto fica triste, triste, e pela face desliza uma lágrima. E a pobre menina estende os braços, como se implorando ao vento que lhe traga aquelas palavras mais uma vez. E eu, esperando o vento favorável, sopro a meia voz:
— Eu te amo, Nádia!
Deus meu, o que se passa com Nádenka! Ela solta um grito, sorri com o rosto inteiro e estende os braços ao encontro do vento, risonha, feliz, tão bonita.
E eu vou arrumar as malas…
Isto foi há muito tempo. Agora, Nádenka já é casada; casaram-na, ou foi ela mesma que quis – isto não importa – com um secretário da Curadoria, e hoje ela já tem três filhos. Mas os nossos passeios no morro e a voz do vento trazendo-lhe as palavras “eu te amo, Nádenka”, não foram esquecidos. Para ela, isto é hoje a mais feliz, a mais comovedora e a mais bela recordação de sua vida…
Mas eu, hoje, que estou mais velho, já não compreendo mais por que dizia aquelas palavras.
Não compreendo mais por que brincava…
Tradução: Fabio Baptista.
*Fala-se Russo
A tabacaria de Martin Martinich fica localizada num prédio de esquina. Não é de admirar que tabacarias tenham uma predileção por esquinas, porque o negócio de Martin está indo muito bem. A vitrine é de tamanho modesto, mas bem arrumada. Espelhinhos dão vida ao mostruário. Embaixo, em meio aos vales dos montes de veludo azul, aninha-se uma variedade de caixas de cigarros com nomes expressos no brilhoso dialeto internacional que serve também para nome de hotel; mais acima, fileiras de charutos riem em suas caixas delicadas.
Em sua época, Martin foi um proprietário de terras abastado. Em minhas lembranças infantis ele se destaca por um trator incrível, enquanto seu filho Petya e eu sucumbimos simultaneamente a Meyn Ried e à escarlatina, de forma que agora, depois de quinze anos chocantes de todo tipo de coisas, eu gostava de comprar na tabacaria daquela esquina viva onde Martin vendia seus produtos.
Desde o ano anterior, além disso, temos mais que reminiscências em comum. Martin tem um segredo e me fez fiador desse segredo. “Então, tudo normal?”, pergunto num sussurro, e ele, olhando por cima do ombro, replica também baixinho: “É, graças a Deus, tudo tranquilo.” O segredo é bastante excepcional. Lembro que estava de partida para Paris e fiquei com Martin até a noite da véspera. A alma de um homem pode ser comparada a uma loja de departamentos e seus olhos, a vitrines gêmeas. A julgar pelos olhos de Martin, estavam na moda cores cálidas, castanhas. A julgar por aqueles olhos, a mercadoria dentro de sua alma era de soberba qualidade. E que barba luxuriante,bem brilhosa com robusto grisalho russo. E seus ombros, a estatura, a atitude… Houve tempo em que se dizia que ele era capaz de cortar um lenço com uma espada: uma das proezas de Ricardo Coração de Leão. Agora, um colega emigrado diria com inveja: “Esse homem não se entregou!”
Sua esposa era uma velhota balofa, delicada, com uma verruga na narina esquerda. Desde o tempo das agruras revolucionárias, o rosto dela adquirira um tique patético: ela revirava os olhos depressa para o lado e para cima. Pety a tinha o mesmo físico imponente do pai. Eu gostava de suas boas maneiras carrancudas e de seu humor inesperado. Tinha uma cara larga, flácida (da qual o pai costumava dizer: “Que carantonha: nem em três dias dá para circum-navegar aquilo”) e cabelo castanho-avermelhado, permanentemente despenteado. Pety a era dono de um cineminha numa parte pouco populosa da cidade, que lhe valia modestos rendimentos. E aí temos toda a família.
Eu passei aquele dia anterior à minha partida sentado junto ao balcão, observando Martin receber os clientes: primeiro ele se inclinava ligeiramente, com dois dedos apoiados no balcão, depois ia às prateleiras, apresentava uma caixa com um floreio e perguntava, abrindo-a com a unha do polegar: “Einen Rauchen?” Me lembro desse dia por uma razão especial: Pety a entrou de repente da rua, descabelado e lívido de raiva. A sobrinha de Martin decidira voltar para sua mãe em Moscou, e Pety a tinha sido enviado a encontrar osrepresentantes diplomáticos. Enquanto um dos representantes estava lhe dando alguma informação, um outro, obviamente envolvido com a diretiva política do governo, sussurrou de modo apenas audível: “Essa ralé da Guarda Branca ainda continua na ativa.”
“Eu queria fazer picadinho dele”, disse Pety a esmurrando a palma da mão, “mas infelizmente não podia deixar de pensar em minha tia em Moscou”.
“Você já tem dois ou três pecadilhos na consciência”, Martin murmurou, bem-humorado. Estava se referindo a um incidente muito divertido. Não muito tempo antes, no dia de seu onomástico, Pety a visitara a livraria soviética, cuja presença mancha uma das ruas mais encantadoras de Berlim. Lá vendem não apenas livros, mas também bugigangas variadas, feitas à mão. Pety a escolheu um martelo enfeitado com papoulas e gravado com uma inscrição típica de um martelo bolchevique. O vendedor perguntou se ele queria mais alguma coisa. Pety a disse: “Quero, sim”, apontando um pequeno busto de gesso do Senhor Uly anov.1 Pagou quinze marcos pelo busto e pelo martelo, e então, sem dizer uma palavra, bem ali no balcão, atacou aquele busto com aquele martelo, e com tamanha força que o Senhor Uly anov se desintegrou.
Eu gostava dessa história, assim como gostava, por exemplo, das frases tolas e queridas da infância inesquecível, que aquecem o coração da gente. As palavras de Martin me fizeram olhar para Pety a com uma risada. Mas Pety a sacudiu os ombros, mal-humorado, e fechou a carranca. Martin remexeu na gaveta e estendeu para ele o cigarro mais caro da loja. Mas nem isso dispersou a melancolia de Petya.
Voltei a Berlim um ano e meio depois. Num domingo de manhã, senti uma urgência de encontrar com Martin. Nos dias de semana, podia-se entrar pela loja, uma vez que seu apartamento (três quartos e cozinha) ficava nos fundos. Mas é claro que num domingo de manhã a loja estava fechada e a vitrine, coberta com sua grade. Através dela olhei rapidamente as caixas vermelhas e douradas, os charutos escuros, a modesta plaquinha num canto:“Fala-se russo”, notei que a placa havia de alguma forma ficado mais cinzenta, e dei a volta pelo pátio até a casa de Martin. Coisa estranha: o próprio Martin me pareceu ainda mais alegre, animado, mais radiante que anteriormente. E Petya estava absolutamente irreconhecível: o cabelo oleoso, embaraçado, estava penteado para trás, um amplo sorriso vagamente tímido não deixava seus lábios, ele mantinha uma espécie de silêncio satisfeito e uma curiosa, jovial preocupação, como se carregasse uma carga preciosa dentro dele que abrandava todos os seus movimentos. Apenas sua mãe estava mais pálida que nunca e o mesmo tique cruzava seu rosto como um ligeiro relâmpago de verão. Sentamos na saleta bem-arrumada e eu sabia que os outros dois quartos (o de Petya e o dos pais) eram igualmente arrumados e limpos, e me foi agradável pensar nisso. Tomei chá com limão, ouvi a fala melíflua de Martin e não consegui evitar a impressão de que alguma coisa nova tinha aparecido em seu apartamento, algum tipo de alegre, misteriosa palpitação, como acontece, por exemplo, numa casa em que há uma jovem grávida. Uma ou duas vezes, Martin olhou preocupado para o filho, e diante disso o outro prontamente se levantou e deixou a sala e, ao voltar, acenou discretamente com a cabeça para o pai, como se quisesse dizer que alguma coisa estava indo muito bem.
Havia também algo novo e para mim enigmático na conversa do velho. Estávamos falando de Paris e dos franceses, e, de repente, ele perguntou: “Diga, meu amigo, qual é a maior prisão de Paris?” Respondi que não sabia e comecei a contar sobre uma revista musical francesa em que havia mulheres pintadas de azul.
“Você acha isso grande coisa!”, Martin interrompeu. “Dizem, por exemplo, que as mulheres raspam o reboco das paredes da prisão e usam para empoar o rosto, o pescoço, sei lá.” Para confirmar suas palavras, trouxe do quarto um grosso volume de um criminologista alemão e encontrou o capítulo sobre a rotina da vida na prisão. Tentei mudar de assunto, mas por mais que eu mudasse de assunto, Martin o revirava com artísticas circunvoluções de forma que, de repente, nos víamos discutindo quanto a prisão perpétua era mais humana que a execução, ou os métodos engenhosos inventados por criminosos para escapar para a liberdade.
Fiquei intrigado. Pety a, que adorava tudo o que era mecânico, estava cutucando com um canivete as molas de seu relógio e rindo consigo mesmo. A mãe, trabalhando em seu bordado, de vez em quando empurrava em minha direção a torrada ou a geleia. Martin, agarrado à barba revolta com os cinco dedos, me deu uma rápida olhada de lado com seus olhos fulvos e, de repente, alguma coisa cedeu dentro dele. Bateu a palma na mão na mesa e se virou para o filho. “Eu não aguento mais, Pety a: vou contar tudo para ele senão estouro.”Pety a assentiu silenciosamente. A esposa de Martin estava se levantando para ir à cozinha. “Que tagarela você é”, disse ela, sacudindo a cabeça indulgentemente. Martin pôs a mão em meu ombro e me deu tamanho safanão que se eu fosse uma macieira no pomar as maçãs teriam literalmente se desprendido de mim, e me olhou no rosto. “Estou avisando”, disse ele. “Vou contar um segredo, mas um segredo que… nem sei. Veja bem: lábios selados! Entendeu?”
E inclinando-se para perto de mim, banhando-me com seu odor de tabaco e com seu próprio cheiro penetrante de velho, Martin me contou uma história realmente incrível.2
“Aconteceu logo depois que você foi embora”, Martin começou. “Um cliente entrou. Evidentemente, não tinha notado a placa na vitrine, porque se dirigiu a mim em alemão. Deixe eu frisar bem isto: se tivesse notado a placa, não teria entrado numa modesta loja de emigrados. Reconheci imediatamente que ele era russo por sua pronúncia. Tinha cara de russo também. Eu, é claro, parti para falar russo, perguntei qual faixa de preço, qual tipo de produto. Ele me olhou com desagradável surpresa: ‘O que faz o senhor pensar que eu sou russo?’ Dei uma resposta absolutamente gentil, pelo que me lembro, e comecei a contar os cigarros. Nesse momento, Petya entrou. Quando viu meu cliente, disse com absoluta tranquilidade: ‘Ora, que encontro agradável.’ Então, o meu Pety a vai até o homem e bate em seu rosto com o punho. O outro gelou. Como Petya me explicou depois, o que aconteceu não foi apenas um nocaute com a vítima caindo no chão, mas um tipo especial de nocaute: acontece que Pety a deu um soco de ação retardada e o homem continuou de pé. Parecia que estava dormindo em pé. Então começou lentamente a cair para trás como uma torre. Petya deu a volta e pegou o homem pelas axilas. Era tudo muito inesperado. Pety a disse: ‘Me ajude aqui, pai.’ Eu perguntei o que ele pensava que estava fazendo. Pety a repetiu apenas: ‘Me ajude aqui.’ Conheço bem o meu Pety a (não adianta dar essa risadinha, Pety a), e sei que tem os pés no chão, pondera os seus atos e não põe ninguém fora de combate a troco de nada. Arrastamos o desmaiado da loja para o corredor e depois para o quarto de Pety a. Bem nesse momento escutei a campainha: alguém tinha entrado na loja. Muito bom, claro, que não tivesse acontecido antes. Lá fui eu de volta para a loja, fiz minha venda, então, por sorte, minha mulher chegou à loja e imediatamente pedi que ficasse no balcão enquanto eu, sem dizer uma palavra, ia ventando para o quarto de Petya. O homem estava deitado de olhos fechados no chão, Pety a sentado à sua mesa, examinando com ar pensativo certos objetos como uma grande charuteira de couro, meia dúzia de cartões-postais obscenos, uma carteira, um passaporte, um revólver antigo mas aparentemente eficiente. Ele me explicou imediatamente: tenho certeza de que você já entendeu que essas coisas tinham saído dos bolso do homem e ele próprio não era outro senão aquele representante, você se lembra da história de Pety a, que tinha feito aquela observação sobre a ralé Branca, isso, isso, exatamente o mesmo! E a julgar por certos documentos, era um membro da GPU3 sem dúvida nenhuma. ‘Muito bem’, eu disse a Petya, ‘então você deu um soco na cara de um sujeito. Se ele mereceu ou não é outra história, mas por favor me explique, o que você pretende fazer agora? Evidentemente, você esqueceu completamente de sua tia em Moscou.’ ‘É, esqueci’, Pety a disse. ‘Temos de pensar em alguma coisa.’
“E pensamos. Primeiro, arrumamos uma corda forte e tapamos a boca dele com uma toalha. Enquanto a gente fazia isso, ele voltou a si e abriu um olho. Olhando mais de perto, vou lhe dizer, a cara dele não era só repulsiva, mas burra também: algum tipo de sarna na testa, bigode, nariz grosso. Deixamos o homem deitado no chão, Petya e eu nos acomodamos bem perto e começamos uma judiciosa investigação. Debatemos um bom tempo. Estávamos preocupados não tanto com a afronta em si, isso era uma bobagem, claro, mas sim com a profissão dele, por assim dizer, e com as coisas que ele tinha cometido na Rússia. O acusado teve permissão para dar a última palavra. Quando tiramos a toalha da boca dele, soltou uma espécie de gemido, engasgou, mas não disse nada além de ‘Esperem só, esperem para ver…’ Amarramos a toalha de novo e retomamos a sessão. Os votos ficaram divididos no começo. Petya queria pena de morte. Eu achava que ele merecia morrer, mas propus trocar a execução por prisão
perpétua. Pety a pensou um pouco e concordou. Acrescentei que, embora ele certamente tivesse cometido crimes, nós não tínhamos como ter certeza disso; que o simples emprego dele constituía um crime em si; que nosso dever se limitava a tornar o homem inofensivo, mais nada. Agora escute o resto.
“Temos um banheiro no fim do corredor. Um quartinho escuro, muito escuro, com uma banheira de ferro esmaltado. A água muitas vezes entra em greve. Há uma ou outra barata. O quartinho é tão escuro porque a janela é extremamente estreita e situada bem debaixo do teto e, além disso, bem na frente da janela, a menos de um metro, existe uma boa e sólida parede de tijolos. E foi aí, nesse esconderijo, que resolvemos manter o prisioneiro. Foi ideia de Petya, foi, sim, Pety a, a César o que é de César. Em primeiro lugar, claro, a cela tinha de ser preparada. Fomos arrastando o prisioneiro pelo corredor para ele estar perto enquanto a gente trabalhava. E foi aí que minha mulher, que tinha acabado de trancar a loja para a noite e estava a caminho da cozinha, nos viu. Ficou perplexa, indignada até, mas entendeu o nosso raciocínio. Dócil, a menina. Pety a começou por desmontar uma mesa sólida que tínhamos na cozinha: arrancou as pernas e usou a prancha que sobrou para lacrar a janela do banheiro. Depois tirou as torneiras, removeu o cilindro do aquecedor de água e pôs um colchão no chão do banheiro. Claro que no dia seguinte acrescentamos várias melhorias: mudamos a chave, instalamos uma tranca, reforçamos a prancha da janela com metal. Tudo isso, claro, sem fazer muito barulho. Como você sabe, não temos vizinhos, mas mesmo assim convinha agirmos com cautela. O resultado ficou uma verdadeira cela de prisão, e lá pusemos o sujeito da GPU. Desamarramos a corda, desamarramos a toalha, alertamos que se ele começasse a gritar ia ser imobilizado de novo, e por muito tempo; então, satisfeitos porque ele tinha entendido para quem era o colchão colocado na banheira, trancamos a porta e ficamos de guarda a noite toda, em turnos.
“Esse momento marcou o começo de uma nova vida para nós. Eu não era mais simplesmente Martin Martinich, mas Martin Martinich, o carcereiro chefe. De início, o prisioneiro ficou tão tonto com o que havia acontecido que seu comportamento foi discreto. Logo, porém, retomou seu estado normal e, quando levamos o jantar, partiu para um furacão de grosserias. Não posso repetir as obscenidades desse homem; me limito a dizer que ele colocou minha falecida mãe nas mais curiosas situações. Eu estava decidido a inculcar seriamente nele a natureza de sua posição legal. Expliquei que permaneceria preso até o fim de seus dias; que se eu morresse primeiro, ele seria transferido a Pety a, como um legado; que meu filho, por sua vez, transmitiria o seu cuidado a meu futuro neto e assim por diante, fazendo com que ele se transformasse numa espécie de tradição de família. Uma joia defamília. Mencionei, de passagem, que, na eventualidade improvável de mudarmos para outro apartamento em Berlim, ele seria amarrado, colocado num baú especial, o que tornaria muito fácil a mudança para nós. Prossegui e expliquei que só num único caso ele poderia obter anistia. Especificamente, que ele seria libertado no dia em que explodisse a bolha bolchevique. Por fim, prometi que seria bem alimentado, bem melhor do que eu fui quando, em minha época, fui preso pela Cheka,4 e que, como privilégio especial, ele receberia livros. E, de fato, até hoje não acredito que tenha reclamado da comida nem uma vez. Verdade, no começo, Pety a propôs que ele fosse alimentado com ruivo seco, mas por mais que a gente procurasse não se encontrou esse peixe soviético em Berlim. Fomos obrigados a servir comida burguesa para ele. Exatamente às oito horas, toda manhã, Pety a e eu entramos e colocamos ao lado da banheira uma tigela de sopa quente e um pedaço de pão preto. Ao mesmo tempo, retiramos o urinol, um utensílio engenhoso que compramos só para ele. Às três, ele recebe um copo de chá, às sete mais um pouco de sopa. O sistema nutricional segue o modelo em uso nas melhores prisões europeias.
“Os livros foram mais problemáticos. Fizemos um conselho familiar para saber com quais começar e nos detivemos em três títulos: Príncipe Serebryanïy, as Fábulas de Kry lov e A volta ao mundo em oitenta dias. Ele anunciou que não ia ler aqueles ‘panfletos da Guarda Branca’, mas deixamos os livros e temos toda razão para acreditar que ele leu com prazer.
“O estado de espírito dele era variável. Ele se tornou calado. Evidentemente estava aprontando alguma coisa. Talvez esperasse que a polícia fosse começar a procurar por ele. Nós conferimos os jornais, mas não havia nem uma palavra sobre um agente da Cheka desaparecido. Muito provavelmente, os outros representantes deviam ter concluído que o homem simplesmente desertara e preferiram enterrar o assunto. A esse período pensativo pertence a sua tentativa de escapar, ou ao menos de se comunicar com o mundo exterior. Ele caminhava pela cela, provavelmente chegou até a janela, tentou soltar as pranchas, tentou esmurrar, mas fizemos uma ou outra ameaça e os socos pararam. E uma vez, quando Pety a entrou sozinho, o homem pulou em cima dele. Pety a o prendeu num abraço de urso cuidadoso e o pôs sentado na banheira. Depois desse acontecimento, ele passou por outra mudança, ficou muito bem-humorado, até fazia piadas de vez em quando, e finalmente tentou nos subornar. Ofereceu uma soma enorme, que propôs conseguir através de alguém. Quando isso também não adiantou, ele começou a chorar, depois voltou a xingar pior do que antes. No momento, ele está num estágio de tristonha submissão, o que, eu temo, não é bom sinal.
“Nós levamos o sujeito para uma caminhada no corredor todos os dias, e duas vezes por semana ele toma ar numa janela aberta; naturalmente tomamos todas as precauções necessárias para impedir que grite. Aos sábados, ele toma um banho. Nós temos de tomar banho na cozinha. Aos domingos, eu faço uma palestrazinha para ele e deixo que fume três cigarros. Na minha presença, claro. Sobre o que são essas palestras? Todo tipo de coisa. Sobre Puchkin, por exemplo, ou a Grécia Antiga. Só um assunto é omitido: política. Ele é totalmente privado de política. Simplesmente como se isso não existisse na face da terra. E sabe de uma coisa? Desde que mantenho um agente soviético prisioneiro, desde que me pus a servir a Pátria, eu simplesmente sou outro homem. Animado e feliz. E os negócios prosperaram, então também não é um grande problema sustentar o sujeito. Ele me custa vinte e poucos marcos por mês, contando a eletricidade: lá dentro é completamente escuro, então das oito da manhã às oito da noite deixamos uma lâmpada fraca acesa.
“Você me pergunta sobre a origem dele? Bom, como posso dizer… Ele tem vinte e quatro anos, é camponês, é pouco provável que tenha terminado até mesmo a escola da aldeia, é o que se chama de ‘um comunista honesto’, estudou apenas literatura política, o que pelo nosso livro significa fazer um desmiolado virar um cabeça-dura, só sei isso. Ah, se quiser, mostro o prisioneiro a você, mas, lembre-se, nem uma palavra!”
Martin foi para o corredor. Pety a e eu seguimos atrás. O velho com seu confortável paletó de ficar em casa realmente parecia um diretor de prisão. Enquanto caminhava, tirou do bolso a chave e havia algo profissional no modo como a inseriu na fechadura. A fechadura girou duas vezes e Martin abriu a porta. Longe de ser um buraco mal iluminado, era um banheiro esplêndido, espaçoso, do tipo que se encontra em residências alemãs confortáveis. Luz elétrica forte, mas agradável aos olhos, acesa atrás de um quebra-luz alegre, decorado. Um espelho cintilante na parede da esquerda. Na mesinha de cabeceira ao lado da banheira havia livros, uma laranja descascada num prato lustroso e uma garrafa de cerveja intocada. Na banheira branca, sobre um colchão coberto com lençol limpo, com um travesseiro grande debaixo da cabeça, havia um sujeito bem alimentado, de olhos brilhantes, com uma barba por fazer há muito, roupão de banho (descartado por seu senhor) e chinelos macios e quentes.
“Bom, o que me diz?”, Martin me perguntou.
Eu achei a cena cômica e não sabia o que responder. “Era ali que ficava a janela”, Martin apontou com o dedo. Sem dúvida nenhuma, a janela tinha sido vedada com perfeição.
O prisioneiro bocejou e virou para a parede. Saímos. Martin alisou a tranca com um sorriso. “Nenhuma chance de ele escapar”, disse e acrescentou, pensativo: “Mas eu tenho curiosidade de saber quantos anos vai passar aqui…”
*Contos Reunidos – Vladimir Nabokov. Editora Alfaguara. Tradução José Rubens Siqueira. Le Livros.site
Notas
1 Nome verdadeiro de Lenin. (D.N.)
2 Nesta narrativa, todos os traços e sinais característicos que possam apontar a real identidade de Martin foram, é claro, deliberadamente distorcidos. Menciono isso para que os curiosos não procurem em vão pela “tabacaria da esquina.”
(V.N.)
3 Gossudarstwenoje Polititscheskoje Upravlenije, em russo: Administração Política Nacional, o serviço secreto soviético até 1937. (N.T.)
4 A polícia política soviética que antecedeu a GPU. (N.T


