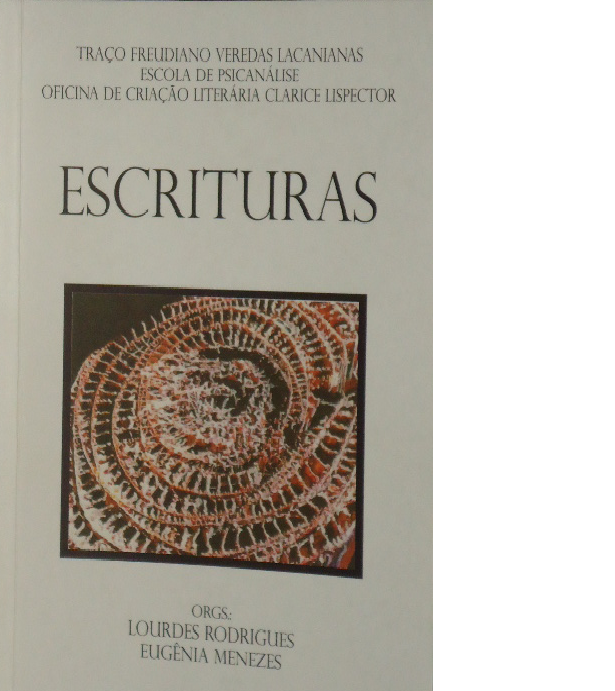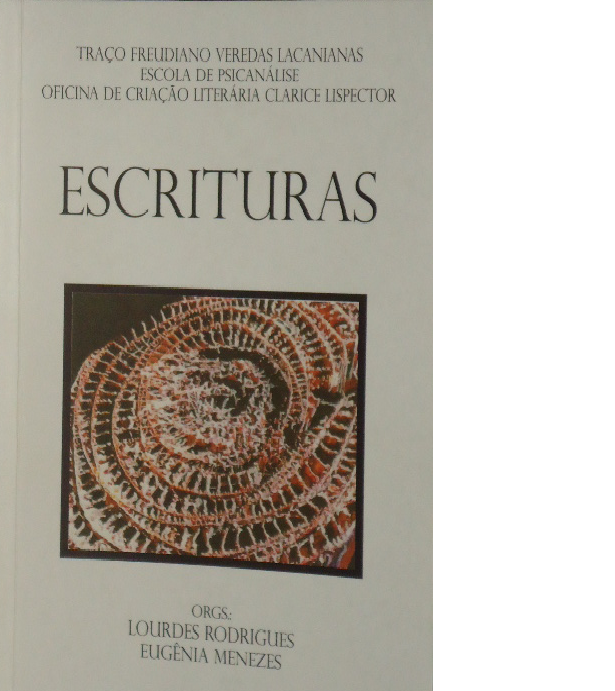
ESCRITURAS
Traço Freudiano Veredas Lacanianas, Escola de Psicanálise.
Oficina de CriaçãoLiterária Clarice Lispector.
ESCRITURAS.
Autores:
Ana Paula Guedes Pereira
Ângela Carolina Cysneiros
César Garcia.Diva Simões
Eugênia Menezes (org.)
Everaldo Soares Júnior
Edwiges Caraciolo Rocha
Glauce Chagas
Gleide Peixoto
JP Sousa
Lourdes Rodrigues (org.)
Marcelo Augusto Veloso
Maria Adelaide Câmara
Mônica Raposo Andrade
Stela Oliveira
Vânia Campelo
Teresa Sales
Teresinha Ponce de Leon.
Sumário
11 Na trilha do desejo , Lourdes Rodrigues.
24 Monólogo do sentir , Ana Paula Guedes Pereira.
28 Nada é tão estranho , César Garcia.
34 Desamparo , Diva Simões.
40 Escada , Eugênia Menezes.
42 Prudência , Everaldo Soares Júnior.
47 A mulher e a rua , Edwiges Caraciolo Rocha.
52 Cabelos de rubi , Angela Carolina Cysneiros.
61 A dor azul , Glauce Chagas.
65 Sob o mesmo céu , Gleide Peixoto.
69 O Encontro , J.P. Sousa.
75 O tempo da casa , Maria Adelaide Câmara.
80 Volver a los diecisiete , Teresinha Ponce de Leon.
Há momentos na vida em que sentimos tanto a falta
de alguém que o que mais queremos é tirar essa pessoa de nossos sonhos e abraçá-la.
86 A antiga doceria , Ana Paula Guedes Pereira.
89 A casa da infância , Diva Simões.
91 Valsa da saudade , Eugênia Menezes.
92 A visitante , Everaldo Soares Júnior.
Quereria fazer alguma coisa definitiva que rebentasse
com o tendão tenso que sustenta meu coração.
106 O retorno , Lourdes Rodrigues e Everaldo Soares Júnior.
111 As damas de honra , Gleide Peixoto.
114 Equívoco Providencial , Stela Oliveira.
121 Cena anunciada , Vânia Campelo.
Minha essência é inconsciente de si própria e por isso
me obedeço cegamente.
128 Um quarto no quarto , Edwiges Caraciolo Rocha.
132 Des(a)tino , Glauce Chagas.
137 Moonlight serenade , Gleide Peixoto.
141 Aloof , Mônica Raposo Andrade.
144 Galos na madrugada , Teresa Sales.
147 Remininsônia , Vânia Campeio.
Sei o que estou fazendo aqui: conto os instantes que
pingam e são grossos de sangue.
158 Passado a limpo , Eugênia Menezes.
161 Luzes da tarde , Everaldo Soares Júnior.
165 O resgate , Glauce Chagas.
Toda vida é uma missão secreta.
172 Obediência , César Garcia.
179 Lembrança de menino , Diva Simões.
181 O caso da velhinha , Eugênia Menezes.
185 Eu cá comigo mesma , Everaldo Soares Júnior.
188 Bilhete , Glauce Chagas.
193 A substituta , Teresinha Ponce de Leon.
Eu, que vivo de lado, sou à esquerda de quem entra, e
estremece em mim o mundo.
198 Alonso, Jornalista , César Garcia.
205 Tempo sem pressa , Everaldo Soares Júnior.
210 A dama da noite , Glauce Chagas.
212 Limiar , Maria Adelaide Câmara.
217 O vôo da tiara , Teresinha Ponce de Leon.
Sou um ser concomitante: reúno em mim o tempo
passado, o presente e o futuro, o tempo que lateja no
tique,taque dos relógios.
222 A árvore de Pandora , Ana Carolina Cysneiros.
226 O jogo , Everaldo Soares Júnior.
228 Mudança , Eugênia Menezes.
231 A triste história de Maria e João , Glauce Chagas.
237 Beatriz , Marcelo Augusto Veloso.
240 Na ponta dos pés , Teresinha Ponce de Leon.
TRIÁLOGOS DA SOLIDÃO
Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes.
244 Triálogos da Solidão , Maria Adelaide Câmara, Eugênia. Menezes, Glauce Chagas.
246 Algodão doce , Glauce Chagas, Diva Simões, Everaldo Soares Júnior.
251 Solidão , Eugênia Menezes, Everaldo Soares Júnior,Maria Adelaide Câmara.
258 A solidão dói , Everaldo Júnior, Maria Adelaide Câmara, Diva Simões.
262 Sabor de manga verde , Mônica Andrade, Zélia Alves,Maria Adelaide
Câmara.
PARÓDIAS MACHADIANAS
Um dos ofícios do homem é fechar e apertar muito
os olhos a ver se continua pela noite velha o sonho
truncado da noite moça.
268 A causa secreta , Teresa Sales.
272 A missa do galo , Eugênia Menezes.
277 Missa do galo , Everaldo Soares Júnior.
282 Bendita missa do galo! , Glauce Chagas.
285 O espelho , Diva Simões.
288 Valha,me, ó alma exterior! , Edwiges Caracciolo Rocha.
293 As duas faces de um homem só , Glauce Chagas.
299 A cartomante , Marcelo Augusto Veloso.
Na trilha do desejo
Há quatro anos iniciamos uma viagem pelos meandros da Literatura na tentativa de decifrar alguns significantes da criação literária. Praticamente somos os mesmos, em termos quantitativos, de quando ela começou: dezessete, na partida; dezoito, agora. Poucos desembarcaram, deixando saudade, e a esperança de reencontrá-los em cada porto tem guiado o nosso olhar. Marcas vivas de algumas dessas presenças estão nesse livro. Outros companheiros aderiram ao nosso projeto e subiram no barco, trazendo alegria nova, novos saberes e muitas formas e criativas ideias a compartilhar.
Longa, difícil e prazerosa viagem.
Na Carta de Navegação alguns pressupostos guias, em certo grau teóricos, em outros, bem empíricos, e uma certeza delineante e unificadora. no cerne de qualquer criação literária reside o desejo do seu criador, o desejo de escrita, resultante do encontro amoroso com leituras que o deixaram fascinado pela cor da Esperança de escrever ele próprio, diz Roland Barthes.
Escrevo, porque li.
Não se trata de uma leitura qualquer, tantos leem e tão poucos escrevem. Na tese barthesiana, a grande maioria dos leitores esgota esse desejo no próprio ato de ler, vivenciando a alegria plena da leitura pura, da leitura livre, completamente insensíveis ao desejo devastador de fazer algo igual. E complementa. a leitura em si não germina desejo ardente de escrever. É a particular, a tópica, a tópica do Desejo do leitor, aquela que o aprisiona na armadilha das palavras e lhe semeia a esperança de escrever, pois cada palavra é um caminho de transcendência. Leitura transformadora, consumida pelo suplicio de uma falta, pelo Pothos. Gozo, gozo feito de letra, gozo perturbador, fronteiriço da angústia.
Ernesto Sábato faz distinção semelhante. A leitura que se esgota no próprio ato de ler ele a denomina de gratuita; e a que sequestra os sentimentos do leitor e os reverte, de leitura problemática. E ao citar Maurice Naudeau, que disse ser inútil o romance que não traz mudança para o autor e o leitor, Ernesto Sábato busca exemplo. quando acabamos de ler O Processo já não éramos mais a pessoa de antes, e muito menos Kafka permaneceu o mesmo após escrevê-lo.
Assim, lançamo-nos ao mar, e a busca da identificação desse desejo criador e redentor fez-se a nossa bússola. Confiantes que as coordenadas geográficas da rosa-dos-ventos balizariam sempre o cais do Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise como o nosso porto seguro para as chegadas e saídas, os encontros e desencontros. Consultamos aventureiros que tempos antes fizeram viagem semelhante e encontramos suas cartas náuticas. Na de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, todo o traçado da jornada do herói-criador-redentor em doze etapas. Na Carta de Navegação de Roland Barthes, menos poética e enigmática em sua titularidade, A Preparação do Romance, a advertência. para empreender tal viagem é indispensável, sobretudo, paciência e organização, além de desprendimento para abandonar a vida fora daquela aventura.
Mareados com a leitura de tantas cartas náuticas decidimos aportar para ver com os nossos próprios olhos algumas criações, obras primas reverenciadas pelo leitor.
Na Literatura Brasileira fomos buscar referências inquestionáveis. Em Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, encontramos a figura do anti-herói, do avesso do herói campbelliano, do avesso da família. Por caminhos tortuosos de uma narrativa na primeira pessoa, labiríntica, fragmentada, recheada de fluxos de pensamento e ácidos diálogos acompanhamos a paixão alucinante de um irmão por sua irmã….te exorto a reconhecer comigo o fio atávico desta paixão; se o pai, no seu gesto austero, quis fazer da casa um templo, a mãe, transbordando no seu afeto, só conseguiu dela uma casa de perdição. Resistimos até o final, saindo extenuados pela cólera divina e assassina de um pai e o carpir de uma mãe, perdida em seu juízo, batendo a pedra do punho contra o peito. Iohána! Iohána! Iohána! Como corolário da experiência, a trombeta do pai soando, ressoando….toda palavra, sim, é uma semente; entre as coisas humanas que podem nos assombrar, vem a força do verbo em primeiro lugar; precede o uso das mãos, está no fundamento de toda prática, vinga, e se expande, e perpetua…
Depois, assistimos à peregrinação de Hillé em busca do sentido das coisas escondido por um esquivo e abscôndito Menino-Porco, em A Obscena Senhora D, de Hilda Hilst. Sentada no vão de uma escada, de onde fazia caretas para os meninos da rua, ela conversa com Ehud, seu marido. queria te falar do fardo quando envelhecemos, do desaparecimento, dessa coisa que não existe mas é crua, é viva, o Tempo, deixando-nos o encantamento da fala poética, e delirante, em uma narrativa na primeira pessoa.
Em Agua Viva, de Clarice Lispector, belo poema em prosa, a personagem parece se inquietar com o absurdo da vida, ao buscar entender o significado da solidão e o de seu estar no mundo. Narrativa fragmentada, ausência quase completa de enredo, linguagem densa, metafórica.
Saindo das águas brasileiras, mas ainda na América Latina, o encontro com o realismo fantástico, marca dos seus escritores maiores. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, nos apresentou Coma, e Juan Apreciado que, a pedido da mãe, chegara ao lugar para procurar o pai que não conhecera. Vozes, murmúrios gravados nas pedras, nas paredes, nos quartos e nas ruas revelavam conflitos, desejos, estruturas de poder baseadas na posse da terra.
A escrita fragmentada exigia que tentássemos juntar as peças para construir o quebra-cabeça, único meio de desvendar o mistério que envolvia aquela cidade e os seus habitantes, mas por diversas vezes sentimo-nos perdidos no tempo e no espaço da narrativa, assustados com as vozes vindas das entranhas da terra, cujos donos jamais se revelavam totalmente. Bela, desafiante e tenebrosa novela.
Em Aura, de Carlos Fuentes, a narração na segunda pessoa e o processo de duplicação utilizados pelo autor estimulam o interesse para desvendamento do sujeito da fala, de quem é aquela voz que se esconde atrás daquele tu, levando a inúmeras possibilidades interpretativas. Alguns estudiosos da obra consideram que a narração na segunda pessoa é uma forma de o sujeito do enunciado se confundir com o sujeito da enunciação. Na verdade, o livro é uma profunda reflexão sobre o efeito devastador do tempo, numa atmosfera obscura resultante da carga simbólica, das elipses, da escuridão, do entrecruzamento do sonho com a realidade, com a magia, o encantamento. A adoção da voz narrativa na segunda pessoa muito contribuiu para criar o clima ambíguo, a alternância entre passado e futuro, parecendo deflagrar um efeito em cadeia na obra. a duplicação. Essa técnica tornou Aura uma obra particularmente criativa.
Ao desembarcar na Europa dos anos vinte, pareceu-nos continuar a ouvir a voz do pai Sim, toda palavra é uma semente que germina em meio às flores de Mrs. Dalloway, de Virgínia Woolf, em Londres. Ali descobrimos que a arte da escrita se sobrepõe à própria história contada. Anos depois vimos em Aspectos do Romance, de E.M Forster, que a história tem por objetivo brincar com a curiosidade do leitor, mantendo-o em permanente suspense a perguntar e depois, e depois, e depois… Não muito mais do que isso.
A geração de escritores dos anos vinte, James Joyce no ápice da pirâmide, Virginia Woolf, logo a seguir, resolveu ousar na licença poética às suas escritas e trouxe o enredo simples para os seus romances, conduzindo o leitor pela densidade e amplitude de narrativas comoventes e transformadoras. Ulisses e Mrs. Dallovay. Neste último, Virginia Woolf exibe a dualidade das coisas por meio dos personagens, do mundo ao redor deles, dos sentimentos que lhes invadem. Questões humanas fundamentais surgem em meio ao cotidiano mais corriqueiro. …sempre sentira que era muito, muito perigoso viver, por um dia que fosse. Apesar do narrador onisciente, na terceira pessoa, a fronteira com as vozes dos personagens é quase imperceptível, trazendo grandeza e beleza na polifonia, nos diálogos entrecruzados, nos monólogos e fluxos de pensamento.
Seguindo viagem, fomos encontrar, já no pós-guerra, O Estrangeiro, de Albert Camus, na França, o melhor livro depois do armistício, segundo Sartre. Os que já o haviam lido não recusaram o convite para a leitura coletiva, conscientes do quanto a releitura poderia ser impactante, problemática, no dizer de Ernesto Sábato.
Recorremos a O Mito de Sísifo, do mesmo autor, para apreender o estado de absurdo assumido pelo personagem Meursault. Ensaio curto, denso, espécie de formulação teórica do absurdo, da tomada de consciência pelo indivíduo da falta de sentido da vida, já que o caminho é a morte. Julgar que a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Na análise de Sartre ele diz que para Camus o absurdo é ao mesmo tempo um estado de facto e a consciência lúcida que certas pessoas tomam desse estado. Leituras como O Estrangeiro e o Mito de Sísifo capturam a alma do leitor para sempre.
Na chegada à América do Norte descobrimos que as leituras faulknerianas não nos deixariam mais ficar surpresos com Clarice Lispector ou qualquer outro escritor e os seus labirintos linguísticos. O Som e a Fúria, escrito com maestria por Wam Faulkner, descreve num ritmo alucinante a saga dos Compsons, primeiro sob o olhar e choramingos de Benjy, o idiota, cujo fluxo de pensamento desordenado, descontínuo, labiríntico, encheu-nos mais de perguntas do que de respostas. Espaço, tempo, sintaxe, pontuação, tudo foi ignorado poeticamente nessa obra, tornando a narrativa revolucionária e avassaladora. Cada capítulo tem um narrador, cada personagem um rico e complexo perfil psicológico, experiência que o autor exacerbaria em Enquanto Agonizo, outra leitura que fizemos, ainda extasiados com o cheiro das madressilvas de O Som e a Fúria, quando passamos a inalar a podridão do corpo putrefato de Addie Bundren insepulto há vários dias. Além da família, o marido e os filhos, apenas os urubus participaram da jornada até Jefferson, lugar em que ela seria, finalmente, enterrada. Cada personagem ocupou espaço de capítulo para contar a história. Leituras inesquecíveis a pedir que se volte outras vezes a elas.
Na mudança de roteiro no tempo, o Inferno, em A Divina Comédia, de Dante Aligbieri. Sabíamos dos riscos e da árdua tarefa que teríamos pela frente nessa primeira parte da viagem aos reinos do além-túmulo, pois o seu prefaciador, Carmelo, alertara-nos. o autor florentino é eclético, ele abraçou todas as correntes do pensamento, gnoseológicas, morais e religiosas que lhe antecederam e ainda estavam vivas no seu tempo. Vários outros percursos foram feitos pela mitologia grega, romana, celta, identificando veredas, descobrindo caminhos para a compreensão da obra. Navegar pelo Inferno exige coragem e determinação para as muitas descobertas que ele encerra, para os novos saberes que exige e cria.
E, finalmente, singramos para a Rússia com A morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, obra prima em que cada página é um espelho com muitas reflexões para o leitor. Impossível ler sem se sentir completamente refletido nos questionamentos dolorosos de Ivan Ilitch. Narrativa simples, começa pela morte do personagem principal e em flash-back conta a história, e assim, do último capítulo volta-se para o primeiro, fechando o ciclo. O narrador presente na maioria do tempo, nos momentos de muita angústia do personagem, retira-se e entrega‑ lhe a voz para gritar a sua dor, a sua ira, o seu desespero.
As leituras foram intensos exercícios de sensibilidade. Todas, sem exceção. As armadilhas contidas nas palavras eram tantas que não havia como evitá-las. E a escolha delas não foi aleatória. Sabíamos o que estava à nossa frente, ou melhor, queríamos que elas fossem assim, problemáticas, ameaçadoras, fronteiriças da angústia. Gozo. Puro gozo. É bem verdade que havíamos nos protegido um pouco com o arsenal de técnicas literárias vistas e revistas com Mário Vargas Llosa, Ricardo Piglia, Francine Prose, Massaud Moisés, Norman Friedmann, Lígia Chiappini Moraes Leite, entre outros. Tais ferramentas eram respiradouros, os cortes na leitura para a identificação do tipo de narrador, do foco narrativo, da voz do personagem, do espaço e do tempo, ou para relacionar fragmentos, discutir a frase, o parágrafo.
Muitas outras leituras aconteceram, em formas breves, ora por sugestão do tema, ora para reforço da técnica estudada, ou ainda por sugestão de alguém. Contos de Cortázar, James Joyce, Onetti, Borges, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Katherine Mansfield, José Saramago, Virginia Woolf, Gustave Flaubert, Machado de Assis, Wam Faulkner, Nélida Pifion, Gógol, Puchkin, Nabokov, Tchekhov, Dalton Trevisan, Ivan Ângelo, Adélia Prado, Jean Paul Sartre, Autran Doura-do e Ambrose Bierce.
Apesar do encontro amoroso com as leituras e do conhecimento das várias técnicas, foi no próprio fazer literário do grupo, no exercício da escrita, que a viagem se tornou ainda mais interessante. O sucesso de uma oficina literária é a escrita. Passar da leitura para a escrita, no rastro do desejo, só deve acontecer pela mediação de uma prática de imitação. Não a imitação pobre do plágio, mas a imitação transformadora, aquela em que o leitor/escritor realiza o clinamen, segundo Haroldo Bloom, situação típica de apropriação sob a forma de releitura ou interpretação desviante, no ponto em que o escritor influenciado acredita ser necessário corrigir o poema do seu antecessor. Fortes fatores emocionais envolvem esse processo que Bloom chama de Angústia da Influência. O eu do sujeito é falado a partir do lugar do Outro, da identificação ao outro que permite situar com certa precisão a sua relação imaginária e libidinal com o mundo e ver o seu lugar, e estruturar, em função desse lugar e do seu mundo, seu ser, diz Roland Barthes.
Os textos que compõem esse livro surpreendem e nos deixam felizes pela qualidade da prosa, sejam quais forem os seus pais poéticos, talvez nem eles próprios o saibam. Pouco importa, também, a data da sua escrita, se do começo da viagem, ou se bem mais recentes, quando a tripulação já estava mais preparada para enfrentar os mistérios do oceano, elas são as sementes dessa viagem incrível pela trilha da criação literária.
Intensa produção de textos, não tantos quanto o grupo gostaria, havia fôlego para muito mais, com certeza, mas, o suficiente para sentir o efeito germinador das palavras lidas. Palavras que ficaram marcadas como cicatrizes na alma, palavras do pai. toda palavra, sim, é uma semente…
Todas as epígrafes são de Clarice Lispector, abrindo portas para os campos tecidos pelos significantes, a exceção da epígrafe das Paródias Machadianas que é do próprio Machado. Não mais falaremos desses escritores, nem dos seus textos, deixando passagem para você, leitor, fazer a sua própria viagem através de uma leitura particular.
Jaboatão dos Guararapes, novembro de 2009
A loucura é vizinha da mais cruel sensatez
Engulo a loucura porque ela me alucina
calmamente.
Tempestade de Almas
Monólogo do sentir.
Ana Paula Guedes Pereira.
Sou louca. Mergulho num mundo paralelo que eu mesma criei. E as pessoas que agora encontro me fazem acordar para um outro mundo. O mundo dos que se cercam de pessoas. Mas o que foi que eu fiz nesse mundo que terminei doente? Talvez uma incursão intensa no mundo das idéias, no mundo das relações de amor. Porque foi um amor com a maiúsculo que eu sentia, e admirava, e não conseguia nem tocar. O mundo de sensações audíveis que encontrei e não terminei. Por que foi uma falha? O que aconteceu?Aquilo que é terreno não conseguia me tocar? Não. Aquilo que é falho não conseguia me sustentar em pé. O que tanto amei que terminei nesse estado deplorável? O que tanto senti que agora me sinto nula. E há tantas pedras a seguir, tantos caminhos a percorrer… O que aconteceu com a mulher não-prisioneira dos sentimentos, mas sim das sensações e que olhava para o homem como se o tivesse visto antes? Sem transbordar em sentimentos. O que aconteceu com a vida que sempre quis ter? Agora estou aqui escrevendo. E os sentimentos que sempre tive e tenho dos afetos começam a ser mais inteligíveis. E aquilo que me rodeia começa a fazer sentido. E o universo de pessoas começa a ter algum significado. Porque as pessoas que pareciam tão longe começam a ficar mais perto? A amiga com quem conversava e não se movia, apenas escutando forte. A outra amiga que me aproxima do que sou e a outra ainda que me impulsiona a fazer as coisas. E da grande janela de vidro da cafeteria vejo as pessoas passarem e me vejo passar com diferentes roupas e momentos como se já tivesse filhos e calor.E nos diferentes mundos circundo e não sei onde enfincar os pés e as mãos que começam a ficar sensíveis aos meus sentidos. Pés fincados no chão que emoção! Segurança e firmeza no contato com a terra. E o colar com fios dá a sensação de leveza. De subir escadas. E o mundo fica mais próximo. As pessoas e o andar, o colar e o ficar sentado. Conversando sobre a noite de ontem que se foi dormir tarde. Mas o aceso do dia de hoje nem parece o adormecer tarde da noite anterior. Porque há tanto falar, tanta expressão. Expressão é vida. Trazer do mundo interior para o mundo exterior. É difícil. É preciso acreditar em você. E o que fazer com tanta expressão que tem a dimensão de outro mundo? Comer e conversar parece tão banal, mas não é. Comer uma maçã e dispersar um pouco. E continuar a escrever. Porque escrever é um processo que pode ser doloroso. Mas faz compreender a si melhor, talvez. E o que fazer nesse mundo solar que tem uma geografia imensa, de se conhecer várias culturas. E de como se reportar a elas. No meio de tantas características e tantos universos de linguagem, como se comportar? E as histórias, então, perdem-se dentro delas. E o despertar torna-se mais completo com o olhar ao sol e uma xícara de café. Como se o universo próprio que existisse dentro de nós fosse de alguma forma preenchido. E o olhar forte e concentrado remete a uma emoção. Como a flor do girassol que se abre em direção ao sol. O medo de nós mesmos. E o céu estrelado, azul escuro do céu diz que algo acontece. O medo de amar e sonhar e estar lá mesmo sendo invisível. O medo que existe dentro de nós e que se aprofunda numa sobreposição de sentimentos e sensações. O medo de caminhar pela vida. O medo de amar profundamente e chegar ao ponto de não saber onde está. E como seguir a vida depois de tudo isso? Como achar a alegria, e o viver. De passado, do presente e do futuro. Como não achar graça nas coisas e ver os pequenos significados ou viver os grandes gozos. E como se apoderar desse passado e levar uma vida adiante. Uma vida que não é fácil que tem de se trabalhar. Tem de se trabalhar os sentidos, a observação, a vida, o viver. E como transformar tudo isso numa coisa só. Eu ou você. E da experiência imaculada se vive hoje.No caminho em direção ao ente e na reflexão. E o que se faz com tanta paixão? E no se olhar o espero existe, eu e você. Aliena-se o desejo do outro e deixamos de ser o nosso próprio desejo. E o meu júbilo? É preciso alguém dizer esta é você.
Nada é tão estranho.
César Garcia.
Ao introduzir a chave na fechadura da porta de entrada da minha casa, ouvi um gemido que vinha do meu lado esquerdo a um metro de distância. As luzes estavam apagadas e a escuridão só não era total porque havia um poste de iluminação do outro lado da rua. O gemido foi acompanhado por um ruído rascante no piso do terraço em que me encontrava. Enquanto me virava instintivamente, senti um tremor da cabeça aos pés; os pelos dos braços se eriçaram e meu coração disparou. Vi junto à parede uma massa cuja forma não fui capaz de distinguir imediatamente e que se movia de modo lento, emitindo outra vez o gemido. Se tivesse sentido alguma ameaça de ataque, teria fugido, pois não saberia lutar contra uma coisa indefinida. Só tive noção do que fazer quando percebi tratar-se de uma mulher em posição fetal. Gaguejando, perguntei. que é que você está fazendo aqui? Sentou-se, passou a mão no rosto e balbuciou. “achei esse cantinho aqui pra dormir”. Por que você veio dormir aqui, perguntei. Respondeu. “porque a patroa fechou a porta, fiquei na rua.” Cometi a crueldade de dizer. aqui, você não pode ficar. Ela. “não tenho para onde ir.” Isso é problema seu – respondi seco. Levantou-se e saiu se arrastando, sonolenta. Entrei, fechei a porta e fui para a minha cama. Chovia um pouco e fazia um frio gostoso. Achei que ia ter uma noite de sono profundo, cansado da trabalheira e embalado por duas canecas de chope tomadas após o expediente. Li duas páginas de um artigo de Freud sobre o que consideramos estranho. Devo esclarecer que, embora trabalhe em um banco, sou formado em Psicologia – o que justifica meu interesse por tais assuntos. O sono chegou, apaguei a lâmpada e fechei os olhos. A voz de uma das minhas colegas de trabalho é inconfundível. Quando ligo para o escritório e ouço alô, já sei de quem se trata, basta o alô. Para meu espanto, ouvi sua voz junto de mim. “é assim que você trata a mulher que vai se casar com você?” Normalmente, aquele timbre me incomoda, mas dessa vez também me ameaçava. Minha culpa parecia imperdoável e eu tinha de encontrar uma justificativa para escapar de um castigo tenebroso. Ela apontava dois dedos da mão direita em direção aos meus olhos. Tentei segurar seu braço, mas minha mão não se mexia, por mais esforço que fizesse. A penumbra impedia-me de ver seu rosto e eu só tinha certeza de que era ela pela voz de boneca, estridente, apertada. Tentei dizer que estava enganada, que não tinha a mínima intenção de casar-me tão cedo. As palavras saíam aos pedaços, como acontece quando se usa uma linha telefônica ruim. Ela, no entanto, parecia entender tudo, porque argumentou, com total segurança, que nossa patroa não só estava de acordo como decidira fazer o nosso casamento, a qualquer custo. Uma tentativa de fuga seria inútil, pois a patroa seria capaz de obrigar-me a voltar de onde eu estivesse sem nem ao menos usar de violência – bastava a força do seu pensamento. Não levei a sério a ameaça porque me lembrei que tinha um irmão gêmeo. Podia facilmente pedir-lhe que ficasse em meu lugar enquanto viajaria para longe. Meu irmão não se negava a prestar-me nenhum favor e, esperto como sempre, daria um jeito de livrar-se do embaraço. Com este plano na cabeça, pedi desculpa à minha suposta noiva e permiti que me abraçasse. Senti cheiro de suor e perfume barato. Mesmo assim, a indiferença inicial desapareceu e rapidamente me vi envolvido numa violenta onda de prazer. Pedi desculpa, desta vez, com sinceridade. Ficou séria e pronunciou estas palavras. “serei tua, mesmo depois de morta.” Assustado, tentei inutilmente acender alguma lâmpada – nenhum interruptor funcionava, por mais que pressionasse os botões. Pus a mão no bolso da calça e apanhei meu isqueiro. A pequena chama de gás iluminava pouco – apenas o suficiente para ver o rosto da moça que dormira no terraço. Tentei gritar. você, aqui? A voz não saía. A moça disse apenas. “agora tenho que ir, a patroa me espera”.
No dia seguinte, ao chegar ao escritório, dei um bom-dia geral, respondido por todos, alguns apenas com um aceno de cabeça. Mas uma voz gasguita disse alto, de modo afetado. bom-dia, meu herói, sonhei com você. Devia ser uma das suas brincadeiras, não acreditei na coincidência, nem estava com humor para dar-lhe oportunidade de prosseguir. Sentei-me diante do computador e comecei a trabalhar. Devia responder à solicitação de uma cliente do banco sobre a possibilidade de hipotecar uma casa ainda em construção. Analisei os dados do cadastro e verifiquei que sua idade ultrapassava o limite estabelecido pelo banco. Tratava-se de uma idosa de setenta e oito anos. Eu não tinha autonomia para decidir, apenas subsidiava a decisão do gerente com um relatório. Comecei então a redigir minhas conclusões. Percebi que não me exprimia friamente, como era de costume, imaginando a situação em que se encontrava aquela mulher. Parei a digitação e fixei o olhar num cartaz de propaganda do banco, colado na parede em frente. Um casal com aspecto pobre, entrando em uma casa recém comprada. Achei que a mulher olhava para mim e que seu olhar me seguia se eu me mexesse para um lado e para o outro. Encarei com naturalidade, devia ser uma ilusão ótica, própria de certas fotografias. Só me senti perturbado quando ouvi claramente a mulher da foto dizer “tenha vergonha, acha pouco o que fez ontem?” Meu medo era que alguém ali tivesse escutado, ou pior. que ninguém tivesse escutado, neste caso eu estaria louco e a loucura é uma das poucas coisas que me apavoram. Olhei para os lados, nada anormal, todos trabalhando. Voltei a vista para a foto. nada estranho, o casal continuava rindo. Fixei-me na mulher e aos poucos seu rosto foi mudando, tornando-se não digo familiar, mas, sem dúvida conhecido. Era ela, a que dormira no terraço da minha casa. O homem, por sua vez, era em tudo igual a mim. O tremor voltou e comecei a suar frio. Levantei-me discretamente para ir ao banheiro e ao abrir a porta de um dos compartimentos, deparei-me com uma mulher idosa sentada no vaso, com a saia tipo crinolina levantada. Um grito espantoso foi o último som que ouvi antes de perder os sentidos. Despertei numa cama de hospital e ganhei quinze dias de licença para tratamento médico. Tomei medicamentos e aproveitei a folga para ir ao endereço da mulher cuja solicitação fora recusada. Parei a moto em frente ao número 815 de uma rua sem saída e coberta de velhas árvores que pareciam mais belas do que as árvores mais moças da rua em que moro. Os ramos dos dois lados entrelaçavam-se formando um túnel escuro e úmido. A casa era antiga, um tanto lúgubre, mas, à primeira vista, acolhedora. Uma voz de mulher idosa, vinda lá de dentro, disse. já vou, pode entrar. Sentei-me numa das duas cadeiras que havia no terraço de entrada. Chegando à porta, a mulher deu bom-dia e perguntou o que eu desejava. Identifiquei-me e disse que queria apenas conhecê-la, por ter ficado de certa forma preocupado com a recusa da solicitação feita ao banco. Respondeu-me que não era nada grave, pois poderia terminar a construção com seus próprios recursos embora de modo mais lento. Perguntou se eu queria água e respondi que sim. Ela pediu então a alguém que estava no interior da casa e logo depois apareceu, com dois copos de água sobre uma bandeja, a tal moça do terraço. Senti uma onda de calor subindo à minha cabeça e hesitei em cumprimentá-la. Ela deu bom-dia, deixou a bandeja em cima de uma pequena mesa de centro e retirou-se sem nenhum sinal de surpresa. Quis agradecer, mas tive a clara certeza de que perdera a fala. Tinha medo de tentar dizer algo e não sair nenhum som. Para espanto da patroa de minha suposta e sinistra noiva, despedi-me com um sorriso e um aperto de mão. Saí na moto diretamente para o hospital, onde pedi para ser internado novamente. Escrevo estas notas no jardim da enfermaria e, logo após, retomarei a leitura do artigo de Freud.
Desamparo.
Diva Simões.
Ela tinha vinte e cinco anos quando descobriram que existia. Chamava-se Rafaela, nome de anjo, bom de ouvir e pronunciar, mas apenas uma voz chamava-a assim.
Quando veio ao mundo era pequenina e frágil. A mãe pariu aquela criança sozinha, sem ajuda de médico, parteira, amiga ou vizinha. Seu choro era fraco, choro de quem nem bem nasceu e já se despedia. A mãe olhou-a ainda coberta de sangue, suja e amarelada, e sorriu agradecida.
Desde o primeiro dia de vida, conheceu apenas os limites daquela casa velha e pequena. Aquele era o mundo que lhe fora apresentado. Um mundo pequeno, sem horizontes, circunscrito por quatro paredes imundas, pintadas de amarelo, sem janelas e com uma única porta, que permanecia sempre trancada. Ali, morava com Guiomar, sua mãe.
Guiomar era uma velha senhora, fora mãe quase por milagre e trabalhava como faxineira todos os dias, das dez da manha às cinco da tarde. Acalentara a vida toda o sonho de ser mãe, mas era uma mulher feia, desprovida de qualquer sinal de feminilidade. Era estranhíssima na maneira de lidar com as pessoas. Nunca dividiu com ninguém uma alegria, um sonho, um medo, uma dúvida. Amigas nunca teve; inimigos, também não. Quando arranjava um trabalho, dizia o preço do serviço e, caso fosse aceita, trabalhava o tempo inteiro só ouvindo ordens da patroa, sem jamais demonstrar cansaço ou insatisfação. Como era bem asseada e trabalhava como burro de carga, nunca lhe faltou serviço.
Foi numa dessas faxinas que conheceu um rapaz diferente. Devia ter no máximo trinta e cinco anos. Passou o dia perseguindo-a com o olhar. Tinha os olhos vermelhos como chamas, as mãos trêmulas, o passo débil. Pouco antes de terminar a limpeza do quarto dos fundos foi surpreendida por ele que, jogando-a contra uma velha mesa do depósito, arrancou suas roupas e estuprou-a, sem que ela esboçasse a menor intenção de gritar. Seu corpo desfaleceu diante da avidez canina daquele homem doente. Não houve luta, só resignação. Pouco mais de um mês depois, descobriu-se grávida.
Do dia que pariu à volta ao trabalho foram apenas quinze dias. A gravidez, escondida por cintas apertadíssimas e por suas usuais saias e blusas enormes, jamais fora suspeitada por ninguém. Trabalhou na véspera do parto sentindo dores fortíssimas no ventre. Não reclamou de nada, nem aparentou estar diferente dos outros dias. Como tinha cinco trabalhos fixos, uma casa para cada dia da semana, sua curta ausência não foi sentida durante o resguardo. Continuou a trabalhar como se fosse a mesma de quinze dias.
Sempre que saía para o serviço, deixava a filha num berço improvisado com tábuas ao redor da cama. Amamentava a menina até poucos minutos antes de sair para trabalhar e só voltava a alimentá-la sete horas depois. Chegava a casa e ouvia o choro fraco dela. As mãos estavam geladas de fome e, para saciá-la bem, dava-lhe de mamar quase a noite inteira.
Essa rotina de comer não quando se tem fome, mas quando a mãe esta disponível, quase matou a criança. Foram anos de muito choro, das dez da manha às cinco da tarde, até que aprendeu a comer sozinha. Era uma menina de dois anos e só conhecia a mãe, a casa e as comidas. Ao sair para trabalhar, Guiomar tornava Rafaela mais prisioneira daquele lar sufocante. Jamais viu um rosto diferente do da mãe. O mundo exterior se revelava através de fotos nas velhas revistas na casa. Achava engraçado aquele ser com cabelos no rosto, que sua mãe ensinou que se chamava homem e era diferente delas. Mas não sabia em quê. Não sabia também por que tanta variedade de cores, cabelos, tamanhos entre aquelas pessoas. Porém, seu pequeno coração de criança se alegrava quando via esses seres em miniatura. Talvez a natureza proporcionava-lhe, mesmo sem ensinamentos, a capacidade de se identificar com o seu semelhante.
Era tão estranha quanta a mãe. Pouco se falavam e não havia carinho entre elas. Tampouco mágoa ou revolta. A mãe era a única pessoa no mundo, talvez fosse o próprio mundo, e a falta de algo diferente para comparar fez-lhe viver sujeita a esse olhar. Não tinha porque magoar-se, pois a vida era isso. morar numa casa escura, ver a mãe sair pela porta, voltar com comidas novas e saborosas, dormir e acordar. Nem as fotos do mundo lá fora inspiravam naquela criaturinha a idéia de algo novo. Era como se o retrato do mundo fosse só um retrato, não uma realidade. Guiomar era árida de afeto. Nunca recebeu carinho na vida, não sabia ensinar o que não aprendeu. Mas, realizava o desejo de exercer a maternidade alimentando Rafaela com a avidez de quem vai vê-la morrer de fome. De manhã, eram três e quatro pães muito molhados de manteiga, vitaminas de banana ou abacate, cheias de açúcar, além de mingau, cuscuz e, quando sobrava dinheiro, chocolate. O almoço que deixava para a filha se servir era quase sempre carne de porco, com bastante gordura, além de feijão, arroz, macarrão e tudo o mais que pudesse comprar. E, à noite, repetia-se a refeição rica em gordura e açúcar. De forma que, Rafaela foi crescendo e engordando aos olhos daquela mulher carcereira. O mundo da menina, agora uma jovem mulher era esse. comer, comer e comer.
Aos dezoito anos, Rafaela movia-se com dificuldade pela casa. Tinha uns braços enormes, uma barriga extraordinariamente grande e a face de lua cheia. O apetite aumentava dia após dia. A casa era cada dia mais suja e velha. O diálogo entre elas, cada vez mais breve.
Rafaela nada perguntava, nada reclamava. Como nunca ficara doente, a mãe jamais a retirou de casa, nem por uma emergência.
Quando suas pernas começaram a fraquejar, a mãe pensou que fosse devido ao peso daquele corpo imenso. Mas, dia após dia, ela já não tinha mais capacidade de manter-se em pé, de sorte que, aos vinte anos, viu-se presa ao quarto onde dormia. Além de prisioneira do mundo, era também prisioneira de um quartinho minúsculo, com uma cama, uma cômoda e uma cadeira.
Como não podia se mover, a mãe, ao sair para trabalhar, habituou-se a deixar junto dela as panelas de comida, que ela raspava até mais nada sobrar. Guiomar, então, passou a deixar mais comida para que a filha não sentisse fome. Mas, não havia sobras e, por isso, todo dinheiro ganho nas faxinas era convertido em mais e mais alimento. Se antes a velha era calada e solicita, passou a pedir às patroas os restos das refeições, para aumentar a fartura do seu jantar..
Um dia a cama não pode mais com aquele peso e partiu-se. Rafaela caiu pesadamente no chão e cortou as costas com a madeira da cama. Depois de muitos anos, chorou. Mas, não era de revolta seu choro. Era só de dor física. Ela não se sabia humilhantemente gorda. Todas as transformações ocorridas no seu corpo eram encaradas com a naturalidade de quem ignora outra forma de ser. Guiomar conseguiu dois colchões e arrumou-os no chão. Era a nova cama de Rafaela.
Os anos passaram e aquela mulher gorda, trancada num minúsculo quarto, já não respirava com facilidade. A mãe passava uma tolha molhada naquele corpo imenso, duas vezes por semana. Mal podia revirá-la para limpar as costas. O cheiro do quarto era azedo, de um suor velho que impregnara nas paredes.
Um dia, a mãe antes de ir trabalhar e deixar a filha adormecida em casa ouviu o seu ronco forte entrecortado por suspiros terríveis de quem já não podia mais respirar. Rafaela tinha a face aterrorizada de quem busca o ar e não encontra. A mãe olhou longamente para aquele corpo no chão, viu as panelas vazias ao seu lado, abriu a porta e saiu.
A casa que fora seu mundo, sua morada, foi também seu túmulo. Passaram-se oito, dez dias para que o odor insuportável que exalava chamasse a atenção dos transeuntes. Bateram na porta várias vezes. As pessoas foram se ajuntando para ver o que acontecia. Crianças, senhoras, rapazes… Ninguém sabia quem morava ali. Com a chegada dos bombeiros, a porta foi derrubada e para desespero daquele grupo de curiosos, Rafaela foi encontrada morta, já em avançado estado de putrefação.
Escada.
Eugênia Menezes.
Era uma casa de esquina, dessas que se debruçam sem cerimônia sobre a rua principal. Das janelas altas, tia Dora apoiava os cotovelos no pano de crochê, cuidando de não oprimir o vaso com flores. E lá vinha a procissão, os fiéis com as pelerines bordadas e ar convicto, segurando firme lampiões anunciando o núcleo do cortejo.
As janelas da frente testemunhavam também quermesses, festa da Padroeira, parque de diversões rodopiando, rodopiando, rodopiando. Passavam ali meninos para a escola, burros carregados de algodão e agave, caminhão desengonçado trazendo bugigangas para a feira semanal.
Tia Dora, mãe dedicada vendo os filhos brincarem na rua. cuidado com jogos perigosos, trepar no muro não pode. Tia, mãe, devota, dona de casa por excelência, administradora cuidadosa, um exemplo.
Ao lado da casa passava o beco escuro e estreito, caminho que seguia em batentes desiguais, lodosos, com uma vegetação às vezes frondosa. Não se sabia ao certo aonde chegava. Diziam que no rói couro, paraíso das perdidas e deleite dos safados. Outros diziam ser a cadeia o destino final do beco; outros, ainda, o purgatório, lá depois do cemitério. Na dúvida, tia Dora espreitava tudo das janelas do sótão que davam para o beco. Cuidava desses momentos com o mesmo zelo. adormecia as crianças, apagava a luz, olhava extasiada para os símbolos do lar. Tudo em ordem. o Crucifixo na parede, a Ceia Larga sobre o móvel. Benzia-se, contrita, mudava a roupa e o penteado, subia as escadas devagar, bem devagar. Ria com certo deboche. De cima de um caixão de madeira testemunhava, noite após noite, os desmandos passantes. Beijos, amassos, gemidos, longos ou breves encontros.
Tia Dora gozava e gozava, oscilando no caixão desconjuntado, esquecida de rezas e obrigações. Ela amava a casa, sobretudo a escada e o beco. Rodopiando, rodopiando, rodopiando…
Prudência.
Everaldo Soares Júnior.
Sabes que não sou de falar demais, tenhas paciência, serei breve. Quando chegou, eu era só e vivia bem, o desamparo estava do lado dela. Dez anos e eu sessenta e cinco, mas ainda conservada. A pensão pequena cobria as despesas essenciais, não havia luxo, pouco conforto, o suficiente.
No primeiro momento me apiedei do que vi, corpinho magro, cara de fome e a tristeza nos olhos cortando o coração de qualquer cristão. Na mão, o envelope amassado de tanto apertar, parecia ter medo de perder a chance. Li o papel endereçado a mim. acolha, é do seu sangue, faça ela feliz.
Fiquei confusa, mas não havia alternativa, nenhuma chance para mim.
Cresceu, foi à escola, a figura de desolada desapareceu. A tristeza diminuiu, o brilho do olhar voltou. Pareciam os meus olhos. A conversa era pouca, o entendimento, se existia, passava por outro caminho.
Os anos passaram, cada vez mais notava algum jeito semelhante a mim. Comia com a vista baixa, antes de sair penteava de novo os cabelos, ajeitava a saia, fazia pose levantando o queixo, assumindo ar displicente. Duas pessoas sozinhas, o que uma olhava, a outra via. No espelho, as imagens se sucediam, a diferença tornava-se familiar.
Dias, meses, anos, o tempo sem atrapalhar a rotina da casa. Maria Anunciada, diferente, mudava quase todo dia. Morena alta, continuava magrinha, mas o corpo já arredondava. Cabelos grandes, brilhosos, seios apontando para cima, cintura fina, as pernas longas e torneadas. Moça bonita de se ver.
Sei que és paciente, preciso falar, pode ser que as palavras soltas levem para longe esta agonia, a tristeza que não sei de onde vem.
A insônia era difícil de suportar, desde menina convivo com a sua presença todas as noites, faço dela amiga íntima. Explico. à noite, o sono demora, sinto falta do que fazer. Começo a pensar sozinha, primeiro calada, a cabeça devaneando da noite para o dia ou mesmo para outras noites. Depois, o sono chega, falo sem preocupação com o que digo, o som das palavras voam, como canção de ninar, trazendo imagens e histórias, que às vezes fico surpresa. Adormeço, mas não por muito tempo, acordo lembrando do sonho, isso várias vezes. De manhã, nem distingo o que foi pensamento, palavras ou sonhos. A solidão não é tão ruim como dizem. Comigo faz parte de minha vida, povoada de gente, viagens emocionantes. Confesso esperar o silêncio noturno tomar conta do tempo.
Já era tarde, ouvi barulho na cozinha. Corri para lá. Anunciada, pronta, blusa azul-marinho, perfumada, jantava sopa de verduras e tomava café com leite.
Sei para onde vais, mais ainda, conheço ele muito bem. Trabalhador, educado, olhos tristes como os teus, arrumarás a vida com o grande amor e serás feliz.
Da sala ouvia a água do chuveiro, Maria Anunciada no banho.
Perdes com essa demora momentos de prazer junto a ele. O ronco do motor do carro velho se ouviu. Hoje eu seria mais apressada.
Fui para a janela ver o encontro. Esperas, ele a beijou suavemente nos lábios, promessa de amor eterno, o sonho tão desejado. Outra ver a praia branca, o final de tarde recolhia as cores luminosas e nós, cansados das brincadeiras na terra e no mar, abraçávamos o que muita gente não acredita, o amor.
O silêncio é a pausa que antecede o som, o repouso e o impulso. Aprendi ouvindo música, variações contraditórias. O pianíssimo e o ensurdecedor, o ritmo do coração batendo forte e o olhar vago, dissonante. O barulho do carro do Heitor era diferente e fácil de reconhecer, marcava as horas, quase pontualmente.
Não temo a noite, como eu disse antes, me é familiar. Os sons e a melodia dão sentido a qualquer ruí-do. A chave abriu a porta, passos devagar, sentaram-se no sofá. Procuraram sintonizar filme na televisão. Eu só escutava a música e as falas que vinham da TV. Fui na ponta dos pés até a sala, estavam abraçados. Voltei para o primeiro quarto, que era o meu posto. Esperei impaciente a televisão ser desligada. Voltei à sala, não havia mais ninguém. A porta do segundo quarto estava fechada. Fui dormir, arrumei a cama, deitei e comecei a soltar as palavras, a calmaria e os novos sentidos me adormeceram.
Logo cedo, Anunciada era a cara da própria felicidade. Cantando baixinho lavava os pratos, olhava para mim e sorria. Sentei junto à mesa da cozinha para tomar café, tentando discernir os novelos de pensamentos. Que vida é esta a minha? O saber me faz iludir, gosto disso. Mas, quem não gosta?
– Presta atenção, Anunciada, não vás à praia, é melhor ficares em casa, o trânsito vai ser uma loucura com aquela festança.
Quando chove à noite, o recolhimento torna-se mais aprazível. O vento zumbindo e a água batendo no telhado tornam o ambiente convidativo para a meditação.
Não gostava de festas, coisa minha, a convivência próxima com as pessoas me deixava de fora. A alegria era familiar para elas, eu não ficava à vontade. Mas, certa ve~foi diferente, cheguei com ele e foi tudo deslumbrante, a música romântica, dançamos agarrados, o prazer nos envolvia. Nessa festa exagerei na bebi-da e ele me abraçava, enquanto eu tonta lhe dava rápidos belos entrecortados de boas risadas. Fomos para casa só quando o dia clareou.
Que frio! Vou ler as poesias apaixonadas do Bilac. Esperas um pouco, calma, está tudo muito silencioso, vou espiar. Nada demais, estão namorando deitados no sofá, o de sempre. Fiquem onde estão, será melhor as-sim. Vamos à poesia, E ela abria os braços e eu adormecia sorrindo.
O ronco do carro velho partindo. Por que não me obedeceram? Deus meu! A chuva aumentou.
De repente, o estrondo.
Corro para a calçada, havia fogo e fumaça na es-quina, o ônibus imprensou o carro velho contra o poste. De novo! Começo a chorar. O rapaz fora esmagado.
– Dona Prudência, veja que horror! – disse o vizinho de frente.
Entro em casa. Sento no sofá, o pranto vem convulso, demoro muito para me acalmar. As ondas do mar, indo e vindo, faziam o movimento da nossa paixão. Ando até o segundo quarto. Acendo a luz, o leito estava desarrumado, guardo os travesseiros no armário, forro a cama com lençóis limpos. Na penteadeira, o vidro de perfume ainda aberto. Apanho na cadeira a blusa azul-marinho para lavar. Maria Anunciada, tão linda vestida com ela. Apago a luz, tranco a porta e volto para minha noite.
A mulher e a rua.
Edwiges Caraciolo Rocha.
– Lá vai a mulher sem calça. Ei, mulher sem calça, tá bom o banho? – gritava a meninada da rua.
Assim a chamavam, dizia-se, porque ela não usava calcinha, deixava-se à vontade por baixo da saia. Mas havia ainda a versão de que não gostava de calça comprida, para ela era roupa só de homem e não de mulher. Fosse qual fosse a razão, o apelido pegou, sobretudo porque despertava a raiva dela que xingava quem as-sim a chamasse. Seu nome mesmo? Podia ser Maria, Antônia, Severina, ou qualquer outro. Na rua ninguém sabia, muito menos, ainda, qualquer outra coisa sobre ela. Apenas que não tinha rumo nem prumo e era conhecida como mulher sem calça.
Num passado não muito distante, é possível imaginá-la com a pele viçosa e o corpo bem nutrido, olhos graúdos vivazes, brilhantes, cabelos negros ondulados quase chegando à fina cintura, ancas e pernas bem torneadas… Sim, sim, deve ter sido uma mulher bonita, vestígios dessa beleza teimavam em acompanhá-la. É tão ãficil falar da aparência física de alguém que a vida maltratou.
Vivia pelas calçadas, a bater nas portas das casas, pedindo comida, roupa e remédio para febre, dor de cabeça e resfriado que dizia não a deixarem dormir direito. Gostava de tomar banho na torneira da praça, de roupa e tudo, deixando secar no próprio corpo, sem ligar para a tosse que lhe irrompia dos pulmões, e durante esses banhos cantarolava modinhas cujas letras ela inventava para soltar a sua voz. Boa toada, ninguém reclamava da cantoria. De noite, não era vista na rua, nunca dizia onde ia dormir. Voltava no outro dia, e no outro, e no outro…
Sempre abria largo sorriso para os moradores do bairro; alguns retribuíam, outros a ignoravam, e ainda havia quem a humilhasse. Poucos atendiam as ruidosas batidas na porta de casa para dar-lhe a ajuda pedida; a maioria a deixava bater até se cansar e ir embora.
Faltava-lhe juízo, mas não sensibilidade. Ria e chorava de alegria, e também de tristeza. O seu perambular pela rua era um misto de liberdade e prisão, de vida e morte. Às vezes tão livre que só faltava voar com o vento, noutras um pássaro cativo entregue à própria dor e sina. Havia momentos em que a vida pulsava, mas a morte também parecia rondar por ali, querendo arrebatá-la da rua de pedras ora frias ora quentes, de lei-to disforme e ondulações pontiagudas, que abraçavam aqueles pés descalços e calejados.
Apenas a rua, na imobilidade dos seus paralelepípedos, na inércia dos seus postes, na umidade das suas árvores, no balanço da sua vegetação e na singela beleza da sua praça, festejava a chegada dela e lhe oferecia abrigo. Convidava-a a se molhar na chuva, a misturar suas lágrimas com as dela e depois secá-las sob o sol ardente. Na pracinha sempre havia um banco à espera da mulher sem calça. E aquela rua cortada em duas por uma pequena praça que findava numa igrejinha toda branca, adotou-a como filha. Ali era a casa da mulher sem calça. E a rua também já não podia passar sem ela, ficava deserta, com um quê de solidão.
Num desses dias de inverno a rua sentiu-se só. a mulher sem calça não a procurou. Foi um dia de muita tosse e sofrimento. Enfim, ela silenciou. Não xingou nem gritou sequer quando a pegaram pelos braços e pernas e vestiram-lhe uma calça com alças.
A rua assistiu à partida, mas não gostou, queria de volta a sua mulher sem calça. E a chuva deu lágrimas a esse choro silencioso e solitário, enquanto o céu iluminava-se em relampejos de boas-vindas.
Transfiguro a realidade e então outra realidade,
sonhadora e sonâmbula, me cria.
Água Viva.
Cabelos de rubi.
Ângela Carolina Cysneiros.
Numa pequena cidade de interior, dessas que ainda existem em alguns lugares do planeta, vivia uma linda menina, branca como um floco de algodão, com o rosto todo coberto de pintinhas que os adultos chamavam de sardas e os cabelos roxos da cor de uma ameixa madura. Usava um bregueço na cabeça que ela chamava de chapéu, e que mais parecia uma touca, daí que as outras crianças a apelidaram de Touquinha.
Touquinha não gostava muito do apelido pois dizia que aquilo era um lindo chapéu, criado por ela que achava mais bonito do que o que Chapeuzinho Verme-lho usava e do que aquela menina medrosa, Chapeuzinho Amarelo tinha acima da cabeça.
Touquinha gostava muito de histórias de Trancoso, de fadas, duendes e feiticeiros, das que entravam por uma perna de pinto e saiam por uma perna de pato. Pegou mania de ficar embaixo de uma enorme caramboleira que havia no quintal de sua vó e, todas as tardes quando os adultos faziam a sesta, ela ficava junto de sua árvore preferida, com suas lindas bonecas, apreciando os passarinhos que vinham picar as frutas do pomar e os ninhos que eram preparados para receber novos filhotes aos quais ela iria dar nomes engraçados, como pintoso, borrado, bico grande, olhinhos de mar, e assim por diante.
Gostava de saber que podia falar com todos os animais que moravam abaixo e acima da terra e vivia preparando grandes festas para comemorar o aniversário do dia da semana, com deliciosos bolinhos prepara-dos com folhas, areia, barro e flores que ofertava a to-dos os pequenos que por ali passavam. Até parece que eles sabiam que aquela menina entendia tudo o que eles diziam quando se comunicavam entre si. respondia aos voãdores, orientava as formigas quando via que uma delas perdia o prumo, avisava às abelhas que a dona da colméia ia roubar o mel da abelha rainha que ficava muito brava e se vingava nas pobres operárias.
Os adultos não entendiam Touquinha e diziam que ela vivia no Mundo da Lua e da Terra do Nunca. Ela dizia que a Terra do Nunca era muito longe e por isso preferia o Mundo da Lua que ela conhecia muito bem de todas as noites em que ficava a olhar para o Céu a dar notícias da Terra para São Jorge e ouvir as novidades do que acontecia ali pois sabia que os homens grandes viviam mandando coisas para lá e ela não gostava disso. Achava que a Lua deveria ser deixada em paz para continuar iluminado as noites da Terra. Tinha medo de que ela se cansasse dos homens e se mudasse para outros mundos onde as pessoas grandes respeitassem a Natureza, os Animais e o Céu.
Mas, de todos os sonhos que Touquinha viveu, de verdade ou de invenção, acordada ou dormindo, um sonho a deixou muito, muito espantada pois foi tão verdadeiro que ela já não sabia se lhe acontecera ou não.
Numa dessas tardes em que os adultos dormiam, uma linda tarde de verão, Touquinha, como fazia sempre, depois de brincar no balanço pendurado no galho mais forte de sua querida caramboleira, sentiu tanto sono, mas tanto sono, que ficou meio zonza e foi vendo tudo girar em seu redor. Tudo girava cada vez mais rápido, as árvores se misturando, as cores se misturando, o azul do céu misturado ao branco das nuvens, as penas dos pássaros misturando suas cores como se o pintor tivesse passado o pincel em cima de todas elas, fazendo surgir uma nova cor, nova, desconhecida daquela Touquinha.
A linda menina das sardas, foi ficando maravilha-da, encantada com tudo o que via, seus cabelos foram ficando em pé, cada vez mais em pé, e nesse maravilha-mento, foi sentido seu corpo ficar leve, leve, cada vez mais leve; tudo se afastando dela, sua casa, o quintal da vó ficando cada vez mais longe, menor, e ela, subindo, subindo, subindo…. sem poder pensar no que estava acontecendo.
De repente, Touquinha se deu conta de que estava passando por perto do sol e sentiu um calor muito grande, continuou seu passeio, viu se querido São Jorge que a cumprimentou de cima de seu cavalo branco que relinchou alegremente para ela; passou por muitos planetas miúdos, coloridos, grandes pássaros das cores do arco-íris e aí, percebeu que eles a estavam guiando para um lugar Mas que lugar seria esse? perguntou Touquinha para ela mesma.
Então, os pássaros pararam no ar e as nuvens formaram uma linda e fofa cadeira onde eles a sentaram e a depositaram em um planeta/reino muito estranho, muito esquisito.
Conheceu muitos habitantes daquele lugar e logo, logo, soube que as pessoas dali não comem. Ela pensou. ai, minha carambolinha dos céus… eu? não comer? valei-me! e riu-se daquilo que via. Explicaram para ela, numa voz que não fazia som, que quando sentem fome, uma vez ao ano, preparam uma grande fogueira e colocam todas as sobras que juntaram desde o última grande refeição dentro de um enorme caldeirão invisível, temperam com ervas do mato, água da maré, xixi de gafanhoto, “pum” de girafa engarrafado, arroto de cobra e ficam ao redor, aproximando-se dos tições que queimam e soltam um doce cheiro que, por incrível que pareça, Touquinha achou que era o melhor perfume e o vapor mais nutritivo que já conhecera.
As pessoas dali lhe disseram que não morrem e Touquinha as achou muito esquisitas. Os homens não têm cabelo na cabeça e a barba nasce nos joelhos; têm três olhos e um dedo em cada pé com várias camadas de unhas. As orelhas são muito grades e batem na cintura que, por sinal, é a parte mais larga daquelas estranhas criaturas. As mulheres são muito longas, com enormes narizes por onde saem os bebês, têm quatro olhos e quatro braços que são para cuidar do bebê e dos afazeres da casa, ao mesmo tempo… Touquinha via e ouvia tudo com muito curiosidade e nada temia. Contaram para ela que as pessoas daquele lugar quando ficam muito, muito, muito velhas, mas muito velhas mesmo, não morrem. Elas vão para o lugar mais alto do planeta e lá viram fumaça que também vem se juntar naquele almoço a que Touquinha assistiu. Ela estava cada vez mais maravilhada com tudo..
Depois do almoço, Touquinha foi levada pelo no-vos amigos para uma enorme sala . Para chegar até lá, ela percorreu um longo corredor como se fosse um túnel, subindo e subindo e a medida que subia, começou a ouvir tudo o que era falado em todos os mundos e, ao olhar para cima, podia ver todas essas pessoas que falavam e mais aquelas que moravam em diferentes partes de todos os planetas. Touquinha pode ver até seus pais e avós, dormindo sua sesta diária. E o encantamento ia aumentando.
Touquinha sentiu falta de animais e plantas naquele lugar estranho. Perguntou por eles e foi informada de que não tem permissão para conviver com as pessoas durante 360 dias do ano, mas naquele dia, e ela estava com sorte, poderia ver todos os animais e árvores,plantas e flores que ali existem, pois haveria um grande desfile para marcar a data de aniversário da árvore mais antiga do reino, a que era venerada por todos os habitantes vivos e já esfumaçados e a festa duraria cinco dias.
Touquinha não se continha de tanta felicidade, poder conhecer todos os habitantes daquele lindo e esqui-sito planeta seria uma experiência inesquecível em sua tão curta vidinha. O que diriam seus pais e avós quando soubessem o quão longe ela fora e que amigos novos havia conquistado?.
Quando pensava nisto, eis que ouvem-se os gritos de gralhas, pios de coruja, de quero-quero, de araras, de todos os pássaros que Touquinha conhecia. Todos se puseram de pé e viu-se entrar o cortejo dos pássaros cantores. Touquinha ficou boquiaberta pois os sons, embora parecessem com os dos pássaros conhecidos por ela, vinham de outras espécies, lindas, exuberantes, enormes, desconhecidas.
Aquelas estranhas criaturas desciam do céu, junto com as nuvens e traziam a Primavera que é a única estação que lá existe. Junto com elas, a cidade, onde todos moravam. A cidade era de ouro, com muros de esmeraldas; as casas de madrepérola, enfeitadas de rubi a pedra que simbolizava o Amor cultivado entre os habitantes daquele planeta. Os olhares encantados estavam volta-dos para Touquinha, e ela não entendia, mas sorria para todos e acenava como uma princesa. Quando faziam reverência ela lhes mandava beijos e mais beijos soprados na palma das pequeninas mãos. Havia uma grande casa, toda de cristal, com as janelas enfeitadas de pedras coloridas e, no meio, uma fonte de onde jorravam jatos d’água de todas as cores. Todos se apressavam em tocar aquela água que passavam em seus corpos que não possuíam.
Touquinha percebeu que todos estavam vestidos de um tecido muito fino que ela já ouvira sua mãe dizer que se chama crepe, bordado de fios de ouro e enfeitados de teias enormes de aranhas coloridas. Todos pareciam felizes e bonitos, se dando as mãos e se abraçando. Touquinha achou engraçado é que eles não tendo corpos como os que ela conhecia, quando se abraçavam, uns entravam nos outros e formavam um bolo que para ela mais parecia um pudim que sua vó fazia e que ela chamava de manjar dos céus. Foi aí que Touquinha sentiu que estava com muita fome e quis voltar para sua casa para comer aquelas carambolas que ela havia colhido do pé ainda naquela manhã e o manjar prometido.
Mas, para sua surpresa, quando Touquinha estava se preparado para fazer as despedidas, os habitantes daquele estranho e alegre planeta, os animais que participavam da festa, as flores que tagarelavam como periquitos, começaram a segurá-la e dizer-lhe que ela não poderia deixá-los, que ela agora era a nova Rainha anunciada desde o princípio dos tempos como aquela que viria trazer mais prosperidade e sabedoria àquele planeta. Então ela compreendeu. Um que parecia ser o mais velho deles, chegou junto de Touquinha e, num gesto só, arrancou-lhe a touca dos cabelos, deixando à mostra sua linda e longa cabeleira ruiva. Todos começaram a cantar , a dançar e a bater palmas que não faziam barulho, e ela soube que há muito tempo atrás, quando os animais falavam, as galinhas tinham dentes, as estrelas viviam sobre as águas e as nuvens eram bordadas e usadas como almofadas, uma antiga fada feiticeira havia dito• que, uma dia, viria do céu uma menina de cabelos da cor do rubi que iria espalhar o Amor entre os habitantes daquele reino e de todos os reinos ‘conhecidos e não conhecidos, que iriam se unir como irmãos e o mundo amanheceria em paz e muito iluminado.
Touquinha ficou desesperada. Como convencer aqueles seres de que não poderia ser ela a Rainha que esperavam, de que ela era apenas uma menina ingênua e boba, sonhadora e que já sentia saudade de seus pais e irmãos, da caramboleira e de sua boneca preferida, a Quita, de sua gata Maitchain e de seu cachorro Don…. começou a chorar e todos ficaram parados, em silêncio, observando aquilo que nunca tinham visto. lágrimas saindo dos olhos daquela Rainha Ruiva. Nesse momento, todos cercaram Touquinha que começou a ficar mui-to apavorada e a gritar e gritar e gritar cada vez mais forte, dizendo não ser rainha, não ser rainha, até que abriu os olhos e viu sua vó olhando para ela, carinhando seus belos cabelos e dizendo. vamos, minha Touquinha, o manjar já está na mesa.
A dor azul.
Glauce Chagas.
Era gostoso viver uma tarde de verão. Céu azul de brigadeiro transportava meus sonhos também azuis. Nenhuma nuvem a sombrear. A existir cara metade, a minha estava em viagem. Punha-me toda ali, a mil, cabeça turbinada pela ansiedade, à flor da pele, pois o amor ia chegar para mim, devolvido do Tocantins, por uma aterrissagem que esperava bem sucedida. Eufórica, mandara fazer um vestido com bolas azul-anil, de musselina, sugerindo a idéia de quão diáfano era o amor.
Com a faceirice enfeitada pelo meu vestido de bolas, estava disposta a aproveitar a tarde fresca e a me preparar para o tão ansioso encontro. De repente, o celular, algumas vezes maldito, anunciou um lembrete. a hora marcada com o dentista. Um dente me doera, na semana anterior, e ir a dentista sem sentir dor era um saco. Encaminhei-me, já atrasada, ao consultório. Lá tudo era absolutamente clean, asséptico de odores e de acolhimento. Dentista é uma coisa chata. Na sala de espera, aquelas revistinhas fugazes, bem supérfluas, tipo Contigo, Claudia, Nova. Que diferença das que uma tia-avó me falara. o Crueiro, a Manchete; à época, as revistas eram de melhor conteúdo, dizia. E eu, totalmente influenciada pela comunicação eletrônica, descontei a dose de saudosismo da opinião. Aquelas, à minha mão, já velhas pelo uso e ultrapassadas em conteúdo, era o que me separava concretamente da sala do dentista. Em tom de fofocas, uma TV transmitia um repertório da vida mundana de artistas. O zum zum zum do antipático aparelhinho do dentista já me chegava aos ouvidos, introduzindo-me a um mundo neurótico de dor. Peguei uma revista sem capa e nome, nem data, já rasgada, tal-vez, por algum paciente nervoso. Pelé se separara da mulher. Tudo parecera um sonho, o casamento de um preto, mesmo do quilate de um Pelé, com uma loura, quase alemã. O mundo tem desses mistérios e o amor também.
Estava nessas conjecturas, quando fui chamada para um momento bem real. a atendente anunciou a minha vez. Fiz o sinal da cruz. A sala era um ambiente todo branco, tão longe daquele azul de fora… A única cor era a de um show de Tom Jobim, num DVD. Mal enxergava o doutor, o focinho enfiado numa máscara branca, portando uns óculos transparentes que, de tão enormes, lembravam um capacete; ali estava mais um astronauta que um doutor. Incrível, aquele absoluto branco, frio, tinha um ar pesado. Fui instada a pratica-mente deitar-me numa cadeira. Tentava ver, por uma brecha que fosse daquelas persianas, também brancas, o azul da tarde. Fui acordada pela mão do doutor-astronauta escancarando a minha boca para a anestesia. O zum zum zum agora já era bem real. Minhas emoções corriam às soltas, então alimentadas por rolinhos de algodão nas minhas gengivas. Formas arredondadas sempre me davam um frenesi. Senti até um pinguinho de prazer ao lembrar-me do amor. Minhas bochechas eram manipuladas sem o menor escrúpulo, como se quem estivesse ali não fosse gente de carne e osso, embora eu me considerasse mais uma alma penada. Gosto amargo na boca, inchaço da anestesia. E tome broca.
Sem invencionice, foram uns dez preciosos minutos ausentes do azul. A infeliz broca reinava solta na minha boca e eu, triste cão sem dono, sofrendo a fundo os estragos no meu dentinho, agora quase um caco, para o quê minha mãe tanto recomendara cuidados… Parecia que um mundo de bactérias estava sendo exterminado. Silêncio total. Quem poderia falar, eu com a boca escancarada e o doutor com toda aquela carapuça. Se ao menos me fosse dada a condição de dizer alguma coisa, poderia citar os filmes bons que estavam na cidade, alguma exposição de arte… Mas, nada. Tinha plena consciência de que a minha tarde azul estava cada vez mais indo para o beleléu. Uns óculos também foram colocados em mim para aparar possíveis fragmentos afoitos a defender meus olhos azuis. Teve, também, raio laser e, finalmente, a vedação – agora tudo fechado à entrada de novas bactérias; lembrei-me do cimento com que meu pai fechava aos ratos os buracos do quintal da nossa casa.
Saí com o dente curado. Lá fora, não era mais azul – a noite já se instalara e, com ela, meus sonhos a se-rem refeitos, todos, um a um. Corri para o aeroporto. O avião acabara de aterrissar. Apesar de um amigo psicanalista falar-me do ridículo das juras de amor, meu tesão não se entornara junto com as brocas. O grande desafio seria colocá-lo em prática com todo aquele edema em uma das minhas bochechas.
Sob o mesmo céu.
Obstinada sempre fui. Há muitos anos a busca tornou-se o centro da minha vida. Primeiro percorri os recantos do próprio país. Esgotadas as possibilidades, persegui meu objetivo em outras terras. Investigava qualquer sinal que pudesse me conduzir ao fim da minha busca. Nada encontrando, seguia em frente. A cada nova pista o entusiasmo era reacendido.
Desta feita, o percurso foi longo e as indicações confusas.
Desembarquei no aeroporto e entrei em um táxi empoeirado que me conduziu ao destino por estrada de terra. O taxista, de pouca conversa, tinha vaga noção do endereço solicitado. Volta e meia dava uma paradinha para perguntar se estava indo na direção correta. Seguindo as indicações, certificou-se no bar da esquina se o roteiro dado estava certo. Os freqüentadores do bar disseram que o número ficava em frente ao único salão de beleza da rua.
Como tantas outras vezes, a possibilidade de chegar ao desejado veio junto com uma já conhecida ansiedade. Ao descer do táxi, solicitei ao motorista que me aguardasse por alguns instantes. Percebi o olhar curioso da vizinha. Bati à porta. Deparei-me com um adolescente que me trouxe de volta um antigo olhar. Segundos foram suficientes para refazer-me da emoção. Poderia estar enganada, como tantas outras vezes. Enfrentando o estranhamento do jovem, entro na casa e explico a que vim. Havia me preparado para dar uma desculpa aceitável.
Olhei as fotos dos porta-retratos espalhados sobre os móveis da sala. Reconheço-o. A expressão do olhar se manteve apesar do tempo. Estava diante da razão da minha existência ao longo dos anos. Controlo a emoção.
Meus pais não voltarão para o almoço, o garoto disse. Deixei cartão com endereço do hotel e telefone.
Voltei ao táxi. Só emoção. Negava-me a chorar na presença do taxista. Cheguei ao hotel transtornada. Abraçada ao travesseiro, tentava atenuar os ruídos do meu choro. Não sei por quanto tempo agarrei-me às emoções de dor, desespero, abandono, exaustão.
Acordei e vi a noite. Um banho seria salutar. Vinho também. Permitia-me pequenos prazeres. Ele não veio. Não esperava muito diferente. Afinal, vinte anos mudam tudo.
Enquanto tentava viver na obscuridade sou surpreendido por um cartão a mim endereçado. Como isso pode ter acontecido? Sou tomado de pânico. Devo ir e libertar-me? Devo fugir mais uma vez?
A discrição passou a ser a minha marca. Escolhi como parceira a mulher ideal para esta fase da vida. Tímida e submissa, poucas perguntas sobre o meu passa-do. Aceita as histórias contadas sem nunca questionar.
Escondi-me do mundo que freqüentara. A princípio por razões óbvias. A fuga tornou-se natural. A partir daí mantive meu segredo. Quase nenhuma amizade. Às vezes, sinto vontade de juntar-me aos homens que freqüentam o bar, tal qual no passado. Sou detido pelo medo de trair-me através do álcool.
Formávamos uma família reservada. Freqüentávamos os locais socialmente obrigatórios nesta pequena cidade. Igreja, escola, mercado.
A demanda de trabalho sempre esteve aquém das minhas possibilidades. Não raras vezes, senti saudades dos tempos em que trabalhar ocupava lugar significativo em minha vida. Agora começo a escrever contos para me libertar do passado e do presente. Contudo, temo também pela minha escrita. Ela pode revelar o que tenho tentado esconder por todo esse tempo.
Outro dia. A rotina de sempre. No entanto, senti-mento novo. Possibilidade jamais prevista. Tentei telefonar. Não acertava o número escrito no cartão. Bem que merecíamos. Que diabo de agonia. Não consigo. Não consigo. Vou me dar mais um dia.
Não consigo dormir. Há muito que as lembranças não me vinham com tantos detalhes. O cheiro da juventude. Os sonhos de transformar o mundo. A sensação de estar construindo a história. A dor. O caos. As fugas. Tantas perdas.
Sempre cheio de coragem. Agora me reconheço covarde para enfrentar parte do que fui. As lembranças não me deixam.
Aquela reunião fora marcante. Não tínhamos tempo para paixões. Nosso tempo e nossa juventude já estavam comprometidos. Mas como fugir daquele olhar, daquela inteligência? Corajosa, simples e bela. Assim era ela. Coisas sentimentais não combinavam conosco. Mas como negar meu envolvimento? Enfim, vivemos intensa paixão em meio à cumplicidade das lutas. Mui-tos medos, muitas fugas, muita produção, muita adrenalina que tornavam nossos encontros voluptuosos como se fosse o último. Até que um dia eu tive que partir, mergulhar na clandestinidade.
Passam-se três dias.
Hoje, irei, disse para mim mesmo, fingindo tranqüilidade. Quero me apresentar no meu melhor. Contudo, não posso vestir-me muito diferente do usual. Saio mais cedo do trabalho. Chego ao hotel. Às minhas indagações, ouço a resposta. ela esteve aqui até hoje pela manhã.
O encontro
J. P. Sousa.
Acordou. Foi rápida no banho. Vestiu-se.Dispensou o café e tomou um táxi. Ansiedade transpirava por todos os poros. Lembranças passeavam pela sua mente enquanto vislumbrava a cidade que se aproximava.
Não sabia como tudo poderia terminar, caso houvesse algum término. Há meses tomara a decisão de provocar o encontro, tantas vezes adiado. Como reagiria o casal, não fazia a mínima idéia. Em menos de uma hora estariam frente a frente, assim esperava.
Aqui nos encontramos era o título do livro que escolhera, não por acaso, para a viagem. O ensaio do romancista inglês tratava de amor e saudade. Não passara da orelha. O frio na barriga não a permitira avançar.
Não houve dificuldade em localizar a casa. Ficava em um bairro afastado do centro e, de acordo com o taxista, a região havia melhorado muito. O prefeito mora em uma rua paralela, disse com ar de riso. Ela pediu que parasse um pouco antes e acrescentou. aguarde- me. Não sabia quanto tempo demoraria.
À medida que a distância da residência diminuía, a apreensão aumentava. De mãos frias dirigiu- se ao gramado que levava ao amplo terraço daquele local onde ela preferia não estar.
Ar bonachão e quilos a mais que o necessário a vizinha aguava o jardim cantarolando. Foi logo dizendo. Alice saiu com o marido para buscar as crianças na escola. Pode esperá- la aqui em casa.
– Entre, fique à vontade. Meu nome é Madalena, mas pode me chamar de Lena. Caso Alice não almoce no shopping, não deve demorar. E perguntou. a senhora conhece Alice? Sem esperar pela resposta emendou. não sei nada sobre meus vizinhos.Moram aqui há cinco anos. As vezes que tentei puxar conversa, Alice respondeu- me friamente. Parece um pessoal muito instruído. O marido está sempre lendo naquela rede e apontou para uma rede quadriculada no terraço. Era amplo e tomava toda a frente e o lado direito da casa.
Ela ouvia tudo com certa curiosidade. A tagarelice da mulher a distraíra..
– Sim, como é seu nome mesmo?
– Sandra.
– Quer um copo de água?
– Aceito, sim. Obrigada por me convidar para entrar. O jardim é muito bem cuidado.
Não teve oportunidade de dizer mais nada. Lena continuou.
– Sei que o nome da minha vizinha é Alice por acaso. Faz uns dois anos, o carteiro chegou com um envelope grande. Estava endereçado a Alice A. M. Lisboa. Ainda hoje me arrependo de não ter visto quem era o remetente. Ela chegou logo depois, apanhou a encomenda de minhas mãos, agradeceu e correu para casa.
Lena não parava de falar. O casal de filhos forma um par encantador. São educados, sempre me cumprimentam, certamente eles devem ter ficado para almoçar no shopping, justificou. E sai rapidamente antes que Lena comece a lhe fazer perguntas. Dirige- se ao táxi e pede para seguir até um parque. Qualquer parque. Necessitava de silêncio.
As lembranças daquela tarde chuvosa, distante em quase dez anos, voltam. O segredo que ouvira da mãe, um segredo que a transformara. A conversa entrara pela noite. Escutara tudo em silêncio, atônita.
A mãe chorava por tudo. No entanto, durante o tempo daquela revelação não houve uma única lágrima. Em alguns momentos ela fechava os olhos. Talvez para ser mais precisa. Não poderia deixar que resquícios de dúvida trouxessem qualquer mal entendido. A filha ouvia sentimentos, não palavras. A maioria das pessoas, minha filha, não suporta a verdade… A vida é um misto de beleza e mistério… Trechos daquela conversa haviam se apoderado da filha. A chegada ao parque interrompera os devaneios.
Pede ao motorista, a essa altura já um pouco intrigado, que reserve a tarde para ela. Desce do táxi e pensa em tomar um sorvete. Não estava com a mínima fome.
Procura a sombra de uma árvore. Queria ficar entregue aos seus pensamentos… Sandra, fazia uma semana que eu completara trinta e seis anos. Havia saído para comprar seu presente. Você ia fazer cinco anos quando o que vou relatar aconteceu. Assim, a mãe começou a contar a sua história, o seu segredo.
Conheci Pedro por acaso. Pela simples razão de ter resolvido tomar um sorvete. Estava no estacionamento com a chave do carro na mão quando resolvi deixar o presente no carro e voltar para uma sorveteria que ficava a duas quadras. Ia fazer o pedido quando ouço. a combinação de morango com chocolate é perfeita. A voz era segura sem ser arrogante. Alto, moreno, cabelos pretos. Aparentava ter idade bem próxima da minha. Rosto másculo. Deixava transparecer sensibilidade que o diferenciava. Começamos a conversar. Duas horas depois ainda continuávamos, agora em um café, saboreando um cappuccino. Pedro era professor. Entusiasmado pelo conhecimento. Nessa primeira conversa disse- me. procure, sempre, ser leal a si mesma e acrescentou, caso você queira sempre ser coerente com a razão será incoerente com a vida. A paixão fugiu ao meu controle. Conheci o céu. Nos encontros eu me transformava em prazer. A emoção sempre vencia minha razão que tentava, sem sucesso, me limitar. Momentos como aqueles já fariam minha vida ter valido a pena. Ele gostava de Goethe e Shakespeare. Dizia que ambos conseguiram traduzir, como poucos, as complexidades da condição humana. Porém, queixava- se de que tinha uma grande lacuna quanto a clássicos consagrados. O seu critério para leitura, o prazer. Deliciava-se se com as aventuras de Sherlock Holmes. Gostava de ficção científica. Sandra o que vivi foge à compreensão comum. Tornamos a vida monótona pela concepção que dela temos. O que vivi foi muito mais um mistério do que uma simples paixão arrebatadora. Minha filha, um mistério não é para ser entendido, é para ser vivido. Por vezes conversávamos a tarde inteira. Quando estávamos juntos o tempo desaparecia. Certa vez, em uma praia mais afastada, vimos o nascer do sol. Nus.
Trazer de volta o passado não era fácil. Sandra lembrava- se do pai com carinho. Sempre pensara neles como um casal amoroso. Companheiros que sabiam aproveitar os pequenos prazeres do dia a dia, facilitado pelo grande senso de humor do pai.
Nunca mais fora a mesma pessoa, vergada pelo peso daquele segredo. Sentia falta da felicidade do não saber.
Afastara- se do irmão. A última vez que se viram foi no velório da mãe. A lembrança dela agonizante, pedindo que relatasse tudo ao filho, quando o pai dela não estivesse mais vivo, fez com que ela estremecesse. Olhou o relógio, eram três e dez. Levantou
se bruscamente, saiu quase correndo, quem sabe com medo de não levar adiante a sua difícil tarefa. O táxi a esperava, disse ao motorista.
– Por favor, volte para o endereço de hoje pela manhã. É a residência de meu irmão, Pedro.
O tempo da casa.
– Sentamos aqui?
– Sim, não, veja, desocuparam uma mesa perto da amurada, a vista ali é melhor … esse cheirinho de mar! Sempre bonito, vasto… morar no litoral… Seu Pedro não suportava viver no interior.
– Quem?
– Boa tarde! A senhora pode colocar sua bolsa nesta cadeira. Desejam tomar alguma coisa? – pergunta o garçom
– O que vocês têm?
– Temos batidas com frutas da região, refrigerantes…
– E para acompanhar?
– Uns tira gostos especiais, receitas exclusivas da casa. Podem olhar.
– Ah, sim, vamos ver, obrigado.
– Não deixem de olhar nossa carta de vinhos.
– Claro, obrigada.
– Fiquem à vontade.
O garçom se retira.
– Seu Pedro?
– O dono daquele sobrado grande, fechado, aquele que você achou bonito.
– Hum, que foi que houve? Garçom, e essa caipirosca de kiwi?
– Sim, senhor, muito pedida…
– Duas, por favor, para começar. Mas, e seu… seu…
– Seu Pedro. Uma história como tantas outras. Ele saiu de Pesqueira aos dezoito anos, veio para a cidade tentar a vida. Ele contava que no começo tinha sido difícil. Especializou- se em pensões baratas e em salteiras e meias solas na pretensão de um emprego. Enfim, conseguiu uma colocação em uma firma comercial, como modesto vendedor. Seu afinco e jeito elevaram- lhe as comissões e as atenções do gerente, e também as funções. Um belo dia tomou o bonde, cruzou o Beberibe e apaixonou- se por Olinda e pela moça do sobrado.
– Pela moça ou pelo sobrado?
– Você ….
– Vive ainda alguém lá? Parece tão abandonado!
– Dona Artemísia. Deve ter uns oitenta e poucos anos, nora de seu Pedro. Os filhos se foram, cada um pra seu lado. Ela ficou viúva e com a saúde muito precária. Ouvi dizer que não conseguiu vender a casa.
– Talvez a síndrome do molusco.
– Como é que é? Síndrome do molusco? Lá vem você de novo.
– A casa e ela, pregadas e apegadas, primeira e última morada…
– Primeira, não sei; última, acho que sim. Tenho cá as minhas dúvidas quanto a essa coisa do molusco. Acho que a casa pesa- lhe como uma canga da qual não pode se livrar. Acabou tendo que tomar conta da casa, das lembranças, dos sonhos e, sobretudo da família do marido. Você sabia que ela era uma excelente contadora de histórias?
– De Trancoso?
– Seu Pedro casou- se com a moça do sobrado, Maria Quitéria. Era filha única. Tiveram dez filhos. Artemísia casou com o mais velho. Quando seu. Pedro conheceu Maria Quitéria, os futuros sogros estavam muito mal das finanças, haviam sido passados pra trás por um parente, não sei maiores detalhes. Só sei que estavam a ponto de hipotecar o sobrado. No sobrado viviam Maria Quitéria, os pais e uma tia paterna da Maria Quitéria, Evangelina. Triste sina, a dessa tia …
Chega o garçom.
– As caipiroscas. Alguma coisa para acompanhar?
– Daqui a pouco, obrigado.
– …dizem que ela andou de joelhos por todo o sobrado, implorando à mãe para que a deixasse casar com um rapaz que, não sei por qual motivo, não caía nas boas graças dos velhos. Ficou literalmente pra titia. da Maria Quitéria e de todos os filhos desta, de quem cuidou como se fossem seus filhos, seus netos muito amados até morrer.
– Espere aí, quem? Evangelina , Maria Quitéria, Artemísia?
– Evangelina , tia de Maria Quitéria e do marido de Artemísia.
– Ah, sim. E seu Pedro nessa história?
– Chego lá. Dona Artemísia ainda conviveu com ela uns tempos, quando casou e teve de morar por um período na casa dos sogros. Bem velhinha, do mesmo jeito que teve sempre o colo desimpedido e acolhedor para os filhos dos outros, era em seu ombro carinhoso e discreto que Artemísia desabafava as mágoas e contrariedades sofridas com as implicâncias da sogra.
– As coisas têm que mudar, para que permaneçam as mesmas.
– Sim, sim, claro. Mas nem sempre foi assim. seu Pedro … Se eu for contar toda a história do sobrado a gente não sai mais daqui.
– Resuma, então.
– Depois do casamento, seu Pedro entendeu-se se com o sogro, injetando- lhe ânimo para tentar levantar as dívidas do sobrado. Falou de sua capacidade de trabalho, do apreço em que o tinham seus patrões e das amizades surgidas em sua lida com fornecedores e clientes compradores. Fez alusão à possibilidade de empréstimo, o que em princípio repugnou o sogro. Mas seu Pedro era bom vendedor. Enfim, salvaram a casa. Com a morte dos pais de Maria Quitéria, naturalmente, essa passou ao casal.
– E Dona Artemísia?
– Dos dez filhos de seu Pedro e dona Maria Quitéria, só o mais velho herdou o amor pelo sobrado. Não lhe disse que o casal teve oito filhas e dois filhos. As mulheres casaram, saíram de casa. O filho mais novo foi estudar fora e nunca se interessou em voltar. Só vinha em visita. Lá pras tantas fizeram acordos e partilhas, e o marido de dona Artemísia comprou a parte dos outros. A casa era um brinco. Todos os anos recebia pintura nova. Os móveis, belas peças antigas, eram conservadas com rigor. Dona Artemísia cozinhava que era uma maravilha. Como eu e Eugênia gostávamos de ir brincar lá!
– Hem!?
– Sim, nós morávamos na outra esquina, só um beco nos separava do sobrado. Freqüentávamos a mesma escola que os meninos de dona Artemísia. Criados juntos, praticamente. E haja reclamação porque só que ríamos viver socadas lá… fatias finíssimas e crocantes de pão francês torrado, dourado, cheias de manteiga. E as histórias de Dona Artemísia! “Beco do rói couro, paraíso das perdidas, deleite dos safados”…
– Como?!
– Eugênia, Gena, era como ela chamava o beco … pensando bem, a gente até que tem o direito de perder o juízo… de vez em quando …
Volver a los diecisiete.
Teresinha Ponce de Leon.
Férias. Litoral do Nordeste. Banho de mar, água de coco, peixe na brasa, preguiça sem culpa. Pela janela escancarada do quarto de hotel, cores, sons, cheiros. Céu azul, quebradeira das ondas, maresia. Resolve ir até o centro da cidade. Entra em lojas de artesanato à cata de lembranças para os amigos. Cerâmica, madeira, palha de milho. Embaladas em pequenos sacos transparentes, castanhas e passas de caju, cocadas, banana passa.
Atraída pela vitrine da livraria, entra, como de costume, para dar uma olhada. Na prateleira de lançamentos, lê, surpresa, na capa do livro verde, o nome do autor. Dezessete anos. Tentando apagar as imagens, começa a procurar uns livros que namorava há algum tempo. Encontra quase todos. Satisfeita, sai da livraria. O incidente fica relegado ao esquecimento.
Fim das férias. Aeroporto, bagagem maior, fila de embarque. Volta a casa, ao trabalho. Excitava-a o inesperado das partidas, tanto quanto o aconchego prenunciado do retorno.
Três meses depois. Vestida de noiva, atravessa a nave de uma igreja , braços dados com o noivo, a distribuir sorrisos. Feliz, prepara-se ansiosa para o beijo. Acorda. Estremunhada, gosto ruim de frustração na boca, levanta-se a contragosto. Sonhos, quase todos parecem sem pé nem cabeça. Os de José, aquele do Antigo Testamento, foram exceções.
As lembranças começam a vir. Quinze anos, cabelo escorrido, aparelho nos dentes, braços, pernas, tudo sobrando. Colégio de freiras. Tarde de domingo. Fila para a matinê. Amiga a tiracolo.
Apagam-se as luzes. A cadeira vizinha à dela estava desocupada. Ele se aproxima. Senta-se ao lado. Não demora a puxar conversa. A princípio retraída olhos fixos na tela, ela termina por não resistir ao comentário espirituoso e baixa a guarda. Sorri. Ele toma fôlego. Insinua-se. Devia ter uns vinte anos, não mais. Universitário. Carioca. Súbito, sem explicar porque, ele lhe pede um espelho. Ela abre a bolsa e retira o estojo de pó compacto. Sem pressa, ele faz côncava a palma da mão e encaixa nela o espelho; estira o braço. Visualiza-lhe o rosto. Insidioso, fala macia.Que olhos bonitos você tem! Olhos de cigana obliqua e dissimulada.
Ela ainda não conhecia Capitu. Estranha os adjetivos, mas, sem dúvida aquilo era um elogio. Envaidecida, sente-se a própria cigana. Irresistível. No dia seguinte ele volta ao Rio. Um mês depois, o cartão postal. Escrevia bem, o carioca. Ela responde com uma carta. Corresponderam-se por quase dois anos, mas nunca falaram de amor.Formado, ele viria, a trabalho, dali a uma semana. Passaria três dias. Quer revê-la.
Vestido cor-de-rosa, cintura baixa, sandálias brancas de salto anabela vai encontrá
lo. Esquecera o formato do seu rosto, as mandíbulas marcantes, o pescoço longo e forte. O jeito de sorrir, olhos entrefechados, cabeça jogada para trás, dentes bonito, caninos salientes a emprestar-lhe à fisionomia um ar moleque.
Fim de tarde, banco de praça, o filho da vizinha, menino de dez anos, investido da função de guarda costas, escapuliu para tomar um sorvete. Primeiro beijo. De aparelho nos dentes e tudo. Morrer devia ser parecido. Implosão. Explosão. Banco, praça, tudo começou a girar. Zoeira no ouvido. Ao final, abre os olhos, quer falar. Cadê voz? Ele pergunta o que sentiu. Mãos frias, pernas trêmulas, coração aos pulos, falta de ar, responde. nada. Mais tarde, deitada em seu quarto, tenta recuperar o momento mágico. De leve, olhos fechados, passa a língua molhada no dorso da mão. Pressiona-lhe a boca. Passados alguns meses, sem explicação, ele deixou de escrever. Uma história igual a muitas, muitas outras. Ela pensou que nunca mais iria amar.
Volta a ter o mesmo sonho mais duas vezes. Com algumas alterações no enredo e os mesmos protagonistas. Conta o sonho, à amiga mais chegada. As lembranças voltam. Insistentes. como estaria ele agora?
Deixa de falar sobre o assunto. Pudera. Àquela altura da vida. Será que a menopausa tem a ver com os estados regressivos alucinatórios? As lembranças ressuscitadas pelo sonho são cada vez mais freqüentes. Como certas músicas que à revelia do sujeito aferram-se a ele de modo a impossibilitá-lo -, ainda que temporariamente, de cantarolar outra melodia.
Está assustada. Insone. Quer se ver livre do fantasma, só não sabe como. Leitora assídua de romances policiais, amante de filmes de suspense, alguma coisa deve ter aprendido. Imagina todo tipo de esquemas. Enfim, consegue fixar-se em um. Depois, adormece. Acorda disposta e repassa tudo. Espera chegar a noite. No momento aprazado, aproxima-se do telefone, arma-se de coragem e liga.
– Serviço de interurbanos?
Dado o primeiro passo, agora é saber o número do telefone. Lembrava-se do sobrenome. Instantes depois, a telefonista fornece a informação. Não dá mais para recuar. Respira. Por hoje basta. Deixa passar um dia. Na noite seguinte, retorna à ação. Aproxima-se do telefone. Disca. Cinco toques, antes de soar a voz.
– No momento não podemos atender… Era a secretária eletrônica.
Volta ao quarto. No espelho defronte à cama, vê-se repetida. No primeiro momento, estranha a ausência das rugas. Põe os óculos e aproxima-se para ver melhor. Elas estavam lá. Sua história. Deitada, prepara-se para dormir. Não sem antes se despedir do vestido cor de rosa, das sandálias brancas, dos dezessete anos.
* Canção de Mercedes Sosa
Há momentos na vida em que sentimos tanto a
falta de alguém que o que mais queremos é tirar
essa pessoa de nossos sonhos e abraçá-la.
A antiga doceria.
Ana Paula Guedes Pereira.
Abriu-se a porta do táxi. Um pé com salto alto aparece. Aos poucos sai uma mulher de estatura baixa que olha para um lado e para o outro, sem saber para onde ir. Ela caminhou um pouco e depois perguntou a um passante na rua onde era a casa da antiga doçaria. Fazia calor e o rapaz respondeu, protegendo os olhos do sol fica na outra rua paralela a esta, é uma casa de pedras. A mulher agradeceu e seguiu a direção indicada.
Os cabelos soltos tinham volume. Vestia saia preta curta e blusa regata rosa. Um anel no dedo. Segura de si, feito soubesse o segredo de todas as mulheres, ou melhor, dominasse o sentimento de liberdade das mulheres com a força da época em que as mulheres ainda buscavam os seus direitos. Como se em sua mente guardasse um segredo, algo que aconteceu na sua vida e que não foi revelado.
A rua era longa e os passos eram curtos.
A vida se desenvolveu. Olhava o mundo sem piscar, ao menos, conseguira fixá
lo por mais tempo. Agora tinha filhos, marido. Amigos, aliás, sempre os tivera.
Havia morado em outros países. Possuía verdadeira paixão pela vida, mesmo tendo-a conquistado a cada instante.
Chegou ao local desejado, tocou a campainha. A casa grande, com dois pavimentos. Um homem abriu a porta. Eles tomaram um grande susto quando se viram. Corpos estremeceram.
– Bom dia.
– Bom dia.
– Esta é a casa da antiga doceria?
– É sim.
– Poderia percorrê-la? Não, não, desculpe-me. Deixe.
– Não. A senhora pode entrar.
Ela, parada à porta, parecia estática. Finalmente, entrou.
Ele a fez percorrer toda a casa. O andar de baixo com um balcão, um sofá bege e uma luminária e a grande lavanderia colada à cozinha. O andar de cima, os quartos com grandes camas. Será que lembrava o quanto fora forte em sua vida e ela na vida dele? O olhar era trocado no fundo. E no olhar se sabia o quanto um estava no outro.
Surgiu barulho de duas crianças que voltavam da escola. A menina gritou
– Papai.
Então ela a viu, disse um oi alegre e entrou. O menino apenas olhou-a de soslaio e acompanhou a irmã.
Ela já restabelecida da interrupção disse
– Vim olhar a casa para uma amiga. Soube que estava à venda. Não esperava encontrá-lo aqui. O silêncio das trevas se instaurou.
Ela voltou a falar
– Também tenho uma filha pequena.
A fala não fluía. Somente a vida havia fluído. Com pesar. Sentimento urgente de retornar à casa, ao marido e aos filhos, a fez dizer
– Adeus.
Ele disse
– Não se esqueça de mim.
Ela não respondeu.
A vida prosseguiria sem muitos sentidos, e com poucas indagações. Tudo ficaria assim. Acontecera muita coisa, mas não exatamente que tenha passado tudo, mas a vida continuara. Pensava muito. A vida seguiria adiante, mesmo com a força do passado, tinha café para coar, os filhos para levar à escola. E o seu desejo do passado, de certa forma, havia se realizado. Hoje era uma mulher forte, percebia o mundo de outra forma, pela vivência que criou.
A vida a convencera de que não estava morta.
A casa da infância.
Diva Simões.
Retorno à casa da minha infância vinte anos após a partida. Encontro-a abandonada naquela pequena cidade de interior, cercada por extensos canaviais. A pintura desgastada, as janelas quebradas, telhado servindo de ninho para os pássaros. Sinto o coração apertar de saudade. Como era bonita a minha casa. Parecia maior, imponente. Ficava na esquina da rua principal, o que lhe conferia certo prestígio.
Quantas vezes pediram licença à minha mãe para fotografar no jardim, noivas antes de subir ao altar, ca-sais que completavam suas bodas, crianças na formatura do ABC e nos batizados. Ela toda transpirava a vida da família, abrigava nossas histórias, tão cheias de vitórias e fracassos.
Ainda posso sentir a calçada molhada sob meus pés, nos dias de chuva, quando eu, meus irmãos e vizinhos nos deliciávamos com o banho na rua e, achando pouca tanta água que escorria do céu, abríamos a mangueira para que ela jorrasse ainda mais nos nossos corpos.
Ao lado da casa, tinha um beco, onde brincávamos de esconde-esconde e nos divertíamos jogando sementes de pinhão na cabeça dos namorados, que iam se beijar escondidos por trás da jaqueira.
No Natal, a fachada da nossa casa ganhava as luzes de centenas de pequeninas lâmpadas, que meu pai colo-cava para enfeitá-la e, por isso, por muitos anos, ela foi palco dos melhores festejos natalinos de nossa cidade.
E a escada da frente? Como ela parecia enorme para minhas perninhas de criança! No inicio, precisava da ajuda das mãos para subir. É o que vejo na foto que minha madrinha tirou, quando completei dois anos. Hoje, olhando novamente para ela, com os olhos da adulta que sou, vejo como são rasos os degraus e, como ela, a casa, não e tão imponente assim. Parecia maior aos meus olhos de criança. Sinto saudade da plaquinha 478, pintada de cor-de-rosa (por capricho meu) e que agora se encontra meio caída, desbotada, mal sendo possível distinguir os números, como se a casa não fizesse mais parte da rua.
Volto para dar a ela um novo sentido. Tiro do carro uma placa maior do que aquela com os números. Com letras azuis, está escrito VENDE-SE. Pego o martelo e um prego na mala. Ponho o meu passado à venda e me conformo pensando que não existe casa sem cor, sem jardim, sem crianças.
Entro no carro e ainda vejo o velho Jacinto vendendo quebra-queixo na rua.
Valsa da saudade.
Era uma mulher antiga. Nunca se acostuma‑ra à velocidade das inovações, nem ao convívio com as máquinas. No telefone, procurava sempre um rosto para olhar de frente, sorrir ou dizer adeus. Com o carro, esquecia os cuidados: andava sujo, revisões em atraso, o limpador de chuva rangendo pelo desgaste da borracha. Até gasolina já faltara.
Naquela tarde chuvosa esqueceu as precauções e aventurou-se para comprar plantas numa estrada deserta, no exato dia do encontro com o amigo de juventude.
Marcaram para vinte e uma horas, a idade que tinham quando foram namorados. Era um encontro depois de tantos, quantos anos? No ar uma expectativa crescente.
De repente o carro estanca e não retoma a marcha.Sair do carro, além de impossível pela chuva, seria inútil, pois de nada entendia. Não tinha sequer um celular para
pedir socorro. No impasse, reclinou-se na cadeira, fechou os olhos, apertou o “play” do DVD de seus vinte e um anos e antecipou o improvável encontro da noite.
A visitante.
Everaldo Soares Júnior.
Existem pessoas que na primeira sexta-feira do mês vão à missa. Eu vivo longe dessas liturgias. Na primeira sexta-feira do mês, perto do meio dia, venho a este bar. Procuro sempre a mesma mesa. A bebida é um pretexto para apreciar a cena.
O bairro antigo, próximo ao centro, ainda uma mistura de residências com pequenos estabelecimentos comerciais. Casas velhas, descuidadas, descoloridas. Os tons cinzentos dão ao lugar uma aparência de atraso, mais do que de antiguidade.
Conheço, há muito tempo, as pessoas que moram por aqui, que trabalham nesse comércio, sempre freqüentado por gente simples da classe média, que eu poderia dizer como todo mundo. remediados.
Preso a esta cadeira espero ela chegar.
Na casa em frente, porta e janela, pára o Chrysler de luxo, dirigido por um motorista de paletó e gravata. No salão de beleza, vizinho ao bar, a cabeleireira, a manicure, algumas freguesas correm para ver a chegada da elegante mulher. A vizinha, do lado esquerdo, finge aguar o jardim. O motorista desce, contorna o automóvel, abre a porta de trás, do lado direito, e a visitante salta, devagar, alta, um metro e setenta, morena clara, sapatos altos, vestido rodado, decotado, colorido, e dirige-se para a porta da casa. Bate uma, duas vezes, a porta é aberta pelo casal. Sei muito bem o porquê dessa presteza.
– Galego, traga uma gelada.
– Pronto, algum tira gosto?
– O que tem aí de novo?
– O casquinho de caranguejo está saindo agora. Basta um.
O bar, neste horário, não é muito freqüentado, o que me permite vê-la, sem maior esforço, sem precisar disfarçar, mesmo por pouco tempo, quando chega e quando sai. Pode ser penitência, mas não posso fazer nada. São amarras que me dominam. Durante anos lutei para me livrar disso. Desisti. No terraço deste boteco, só a minha mesa, em posição estratégica, está ocupada. Os outros fregueses ocupam, de preferência, a parte interna do bar.
Essa energia que me envolve é a mesma de quinze anos atrás. Morava no sobrado 65, no último quarto do andar de cima. Pensão para estudantes, a vantagem de ocupar a cela de trás era ficar sozinho. Havia certa independência. O dormitório simples, somente o indispensável, a cama, o guarda-roupa, a estante de livros feita de tijolos e pranchas de pinho, o cesto de roupa suja, a cadeira de braços e a mesa de estudos. Na parede junto à porta, bem no alto, a janela envidraçada, que dava para a casa vizinha. O corredor estreito terminava defronte do banheiro. Ao lado, a escadaria que descia até a copa e a cozinha.
Passava o dia solitário, nunca fui de muitos amigos. Estudava para o vestibular, fazia as refeições na própria pensão e nunca reclamei de nada. À noite ia para o curso. A vida rotineira, sem graça, assistia aulas, dedicava-me aos livros, de manhã e de tarde, os exercícios só me davam chateação, mas a disciplina ordenava o cumprimento dos deveres.
Certo dia, acordei mais cedo, fiquei olhando o sol nascer e uma visão deslumbrante me estremeceu. Atravessei com o olhar a vidraça larga da janela da casa vizinha e vi a jovem, quase menina, deitada na cama, dormindo. O corpo livre das cobertas capturou minha emoção. A camisola mal cobria a beleza que me atordoava. Olhei, atentamente, o acordar. Ela mexia-se preguiçosamente, a mostrar o ventre e os seios róseos, os braços sobre o rosto, as pernas longas moviam toda a exuberância da flor que desabrocha, anunciando a força inexplicável do prazer. Tudo era intenso, a jovem livrara
se das vestes e a nudez revelava o vigor esplêndido da promessa de uma mulher. Imóvel, senti o gozo intenso, incontinente, as pernas trêmulas. Sem pressa, sonolenta, ela levantou-se e saiu de cena. Comecei a viver atado aos impulsos que me dominam até hoje.
– Pronto, o casquinho está aqui, mais uma cerveja?
– Bem gelada, esta ainda não estava boa.
A vida continuava, aulas, rotina de estudos, agora havia momentos diferentes, com grandes alumbramentos. Antes do amanhecer, já estava postado na minha vidraça. A observação participante tornara-se ritualista e assim eu aproveitava voluptuosamente toda apresentação magnífica que cada vez mais me fascinava. Tudo perfeito, de manhã, a suprema satisfação que me dava disposição para as tarefas estudantis. À noite, dormia cedo para o despertar cada vez melhor.
Meses, anos, os ritos do amanhecer eram os mesmos, o primeiro raio de sol, o canto dos bem-te-vis, e eu corria para o meu posto e acompanhava a claridade descortinar o espetáculo que diariamente se renovava. Com o tempo ela se transformara numa moça belissima. As formas ficaram arredondadas, pernas grossas, seios pequenos, rijos, rosto longo e olhos grandes, boca carnuda, tudo em harmonia. Os cabelos compridos, pretos e brilhosos que em desalinho envolviam os braços, seios, chegando até a barriga. Entre as coxas roliças, a relva escura que se espalhava em um triângulo formidável.
Comprei numa loja do centro da cidade um binóculo profissional de bom alcance. Gastei o dinheiro de seis mesadas, ficando apenas com o suficiente para pagar a pensão e o curso, mas agora possuía o instrumento que me aproximava dela. O lugar do meu olhar também foi melhorado. Colocava logo cedo a cadeira em cima da mesa, aprimorando a posição de espectador privilegiado. Preparado, ouvia a tia chamar. Suzana, está na hora! Acordava, espreguiçava-se, lentamente, livrando-se dos cobertores e da camisola. A maravilhosa nudez se encontrava com o dia e meus olhos acompanhavam, segundo a segundo, a estampa de exuberante beleza. Depois, vestia o roupão cor de rosa e saía para o banho. Paciente, esperava sua volta para vestir-se. Quase sempre a calcinha e o sutiã eram da mesma cor, brancos ou cor da pele. Sapatos pretos, calça azul-marinho e blusa branca. Pronta, pegava a sacola e saía do quarto.
Eu relaxava e depois ia tomar banho. O dia seguia leve e a rotina era cumprida sem dificuldades.
Passei no vestibular, todos ficaram contentes e até a consideração comigo melhorou. Dona Maria Benta me ofereceu o quarto da frente do prédio, mas recusei, alegando que estava acostumado ao silêncio do aposento de trás. Parece uma esquisitice, mas se ele quer assim, deixa como está, resmungou. O tio, satisfeito com a conquista, quis me presentear e aumentou a mesada. Contabilidade era sugestão dele. Há campo de trabalho, as empresas vêm crescendo muito.
– Mais alguma coisa?
– Outra cerveja.
– Tira gosto?
– Mais um casquinho.
Chegava à pensão doze e meia, na hora provável em que ela entraria em casa. Tudo certo, sempre, a formosa e mais quatro colegas passavam na esquina, numa grande algazarra, de longe, ela era a mais bonita. Eu andava apressado, passava por elas sem que me vissem, olhava novamente e entrava no sobrado. O coração batia descompassado, era grande a proeza.
Na universidade conseguia fazer bem os trabalhos,estagiava no escritório da companhia de seguros. Os professores e meus colegas eram cordiais, porém continuava encabulado, mantendo distância das turmas que se organizavam para as festas, farras ou mesmo o bate papo no final das aulas. A introversão resguardava meus segredos e até minhas histórias, gostava de passar como desconhecido, mania antiga. Era discreto, mas não desagradável. Almoçava cedo, havia ponto para assinar.
Uma vez, estava na copa e ouvi a conversa na cozinha.
– Dona Maria Benta, Suzaninha, depois do vestibular, vai para a casa do pai passar as férias. Fico triste com ela fora e Antônio mais ainda, mas cumprimos o acordo com o meu cunhado. Foi assim desde que ela veio morar conosco, a senhora lembra. A menina ficou sem mãe antes dos dois anos, a coitada da minha infeliz irmã morreu atropelada, foi horrível! O viúvo só casou seis anos depois. Suzaninha não se deu bem com a madrasta, por mais que ela procurasse agradar. Então, o pai fez o acordo. Pode ir morar com a sua tia, férias, domingos e feriados vem para junto de mim. Dona Maria Benta, a alegria chegou como uma benção de Deus. O Antônio mudou muito, é a felicidade em pessoa.
– Dona Chiquinha, faz trinta anos que somos vizinhas e sou testemunha de tudo isso. Vivo nessa trabalheira, mas gosto de prosear com a amiga. Vou embora, Suzaninha e Antônio vão chegar.
Terminei o almoço e saí pensando na vida da minha musa inspiradora. No mês seguinte, escutei de novo a conversa das duas comadres na cozinha.
– Dona Chiquinha, tenho notícias boas, Albertinho, aquele hóspede do andar de cima, formou-se em contabilidade. Fui à colação de grau dele, como convidada. Depois, fomos todos comemorar. eu, Caio, meu sobrinho, o tio de Alberto, que tem ele como filho, num restaurante grãnfino. Ouvi quando o empresário falou. Você, segunda-feira, vá se apresentar no escritório central da firma, o contrato passa agora para a função de contabilista. Todos bateram palmas e o rapaz ficou vermelho como um pimentão. Ele é tímido. Ofereci novamente o quarto da frente, que é mais ventilado, mas ele logo disse que estava bem onde estava.
– Dona Bentinha, o moço merece os parabéns, diga a ele que desejo muito sucesso na vida.
Rápido, subi as escadas para o quarto. As férias da ninfa demoraram mais do que esperava, fui paciente, continuei o trabalho com mais aplicação, deveria mostrar que merecia a confiança. Acordava cedo, espiava pela vidraça, como não havia novidade ia tomar café.
As tarefas do escritório me chamavam. À noite passeava pela praça aqui perto e voltava para a pensão. Vi que havia uma reforma na casa do Sr. Antônio, mudança da porta e da janela de frente, pintura nova, dentro serviço de alvenaria na cozinha, a trabalheira parecia grande. Tive um presságio.
Dona Maria Benta serviu o almoço e retirou-se para conversar com a comadre. Eu comia devagar, atento ao bate-papo das mulheres.
– O Albertinho está cada vez mais calado, é bom rapaz, mas muito sofrido e isso me preocupa. Perdeu a mãe quando nasceu e o pai com dez anos. Se não fosse esse tio rico e a acolhida que demos a ele, não sei o que seria. Quero
lhe bem e quando fica casmurro, não sei o que se passa.
– Amiga, isso é coisa de rapaz mesmo, vejo ele sempre muito compenetrado. Suspirou fundo e disse.Novidade boa tenho eu, dá medo até de pensar.
– Que foi, Dona Chiquinha?
– Suzaninha tem um namorado que mora perto da casa do pai. O pretendente é parente de Antônio, vive muito bem de vida, rico, mas ele é treze anos mais velho. Na semana passada deu a ela um anel de compromisso, com brilhantes. Antônio foi ter com ele. Conversaram longamente e o homem quer casar.
– E Suzaninha?
– Bom, a senhora sabe, telefonema pra cá, telefonema pra lá, conversas no final de semana, passeios nas férias, o amor bateu. Mas a menina disse que só casa se puder continuar os estudos. Sou sincera, é do meu gosto.
Contraí o corpo todo, joguei os pratos no chão, dei um murro na mesa e falei bem alto.
Ela não pode fazer isso comigo!
Levantei e saí correndo em direção a casa dela. Parei na porta e ela, assustada, aproximou-se. Desesperado, protestei.
– Você não pode fazer isso comigo, quem te ama sou eu.
Entrei na casa, chutando as latas de tinta, empurrei a escada e berrei. eu te amo! Amo você de todo coração.
Suzana, apavorada, sem entender nada, escorou-se na parede e gritou
– Fora, fora daqui, seu louco, não te conheço. Tio Antônio!
Desconsertado, parei, tremia muito. Ainda a olhei, linda com o rosto vermelho de raiva. Queria agarrá-la, mas recuei.
-Alberto, meu filho, pare com isso. Venha cá.
Dona Bentinha me abraçou e chorei sem me controlar. A calçada já estava cheia de bisbilhoteiros, fomos passando apressados e as pessoas querendo saber o que acontecera. Entramos rápido na pensão e Dona Maria Benta me levou até o quarto. Deitei na cama e cobri a cabeça com o travesseiro. Encolhido, senti as mãos da protetora me alisando e ouvi.
– Calma, tudo vai passar.
Pouco tempo depois, me disse. beba, é um chá de camomila, vai lhe fazer bem. Tomei o liquido adocicado. Chorando baixinho, flexionei os joelhos sobre o tronco e puxei o lençol, me cobrindo todo. Ouvi-a falar com a voz mansa.
– Paciência, essas coisas passam. Agora, vá dormir. Estou lá embaixo, se precisar de alguma coisa é só chamar.
Senti suas mãos apertando as minhas por cima do lençol. A tarde e a noite passaram sem que me desse conta, só a pressão no peito e o choro que se tornara intermitente. Cansado, adormeci.
De manhã, fui para meu posto e antes mesmo de sentar na cadeira, vi as janelas fechadas e uma cortina azul cobrindo as vidraças. Desci e voltei a me deitar, o choro recomeçou, sem me dar conta. Ouvi a voz da hospedeira. Bom dia! Levantei, abri a porta. Entrou falando baixo. Vá lavar o rosto, trouxe seu café.
Em frente à janela, surpresa, ela examinou o observatório que eu havia instalado. Recolheu a toalha suja e colocou-a no cesto. Pôs a cadeira no chão e o binóculo na
estante. Forrou a mesa com a toalha quadriculada e ajeitou a bandeja do desjejum. Afastou-se, o mirante estava desmontado. Sentei, a comida era cheirosa. Comi a salada
de frutas e tomei café com leite. Mastiguei lentamente torradas com requeijão. Arrumou a cama e começou a falar.
– O tempo é o melhor remédio, vai curar essa ferida escondida. Já está tudo arranjado, ela casa com o parente rico e vai morar na Rua da Praia. Ela mesma disse a Chiquinha que, a partir de agora, quem vai ajudar ao Antônio é ela. A situação é difícil, a aposentadoria dele é pequena e tiveram muitas despesas ultimamente.
Engasguei com a torrada, tentando disfarçar a vontade de chorar.
– Para mim, você é como um filho, seja forte, essa dor vai embora logo.
– Segunda-feira é feriado, só vou trabalhar na terça.
– Sossegue, pode descansar à vontade, venho trazer suas refeições.
– Doutor, o casquinho estava bom?
– É o melhor tira gosto do bar.
– Quer outro?
– Não, troque a cerveja, essa já esquentou.
Lembro bem, aqueles três meses foram difíceis. A tristeza corroendo tudo dentro de mim, esquivava-me de qualquer pessoa. Antes de todos, tomava café na cozinha e à noite voltava tarde e ia direto para o quarto. O trabalho era o lugar mais seguro, mantinha os outros à distância e assim, freqüentemente, me sentia aliviado. Preocupado com as responsabilidades, procurava esquecer a dor. Informei a Dona Bentinha que iria me mudar para o pequeno apartamento funcional da empresa, ficaria mais próximo e dependeria menos de transporte. Contei que o passo seguinte era comprar um lugar para morar.
– Está certo, procure suas melhoras. Aqui sempre encontrará, pelo menos enquanto eu estiver viva, a velha amiga.
Um dia, esqueci os relatórios que havia preparado durante a noite toda. Apressado, voltei para a pensão. Quando atravessei a rua, vi na calçada, Suzana abraçada com um cara alto, bem vestido, escorada num automóvel Chrysler Classic. Tomado de surpresa, parei. O carro partiu rápido. Ela andava devagar, linda, cabelos soltos, camiseta decotada, short cursinho e pés descalços. A estrela matutina, diante de mim. Sem espanto notou minha presença. Seus olhos verdes me fitaram. Respirei fundo e o calor instalou
se no meu corpo, mas continuei a olhá-la. Queria saber quem eu era? Não vi nenhuma expressão de repulsa, só sua beleza fascinante. Baixou a vista, encaminhou
se para a porta, abriu e entrou.
Ainda não sei o que se passou comigo naquele instante, nem mesmo quero saber, o que interessa é o sopro de vida que me voltou.
Esta cerveja está deliciosa. Eis que se abre a porta azul e ela reaparece. Atento, sem perder nem um segundo, olho-a com a mesma excitação. Bela, brilhando mais que o sol, caminha até ao carro. O motorista abre a porta. Carinhosa, abraça o tio e beija a tia na testa. Neste instante, o lance precioso. ela procura com os olhos o bar da esquina. Os velhos voltam e ela sentada no banco de trás, olha para mim. O calor me abrasa, fico imóvel. Antiga presença. O Chrysler faz a volta, para ao lado do boteco. Olhamo
nos mais de perto, ela sorri. O semáforo se abre, verde. O carrão desaparece na avenida.
– Galego, tire a conta.
– Na hora, senhor!
Quereria fazer alguma coisa definitiva
que rebentasse com o tendão tenso
que sustenta meu coração.
A Descoberta do Mundo.
O retorno.
Lourdes Rodrigues. Everaldo Soares Júnior.
Três horas da manhã. Não consegue dormir. Quer se levantar, mas teme acordá-la, corre o risco de destampar aquela boca mantida fechada por força do sono. o que houve, por que não dorme, está sentindo alguma coisa? Odeia a falta de liberdade nas relações, revelar seus pensamentos a alguém só porque divide a cama com ele. Absurdo, absurdo. Bem que gostaria de dormir sozinho e dividir o quarto apenas para as batidas de pernas na cama. Mas se ousar fazer tal proposta ela certamente virá com a lengalenga de sempre, você está diferente, não me ama mais, vamos discutir a relação. Mulheres, mulheres. Seria tão bom. Depois cada um tomaria o seu rumo, resgatando a liberdade de ler madrugada adentro com a luz acesa, ouvir música, assistir filmes, ou apenas extravasar a inquietação, o mau humor.
Feito agora. Não consegue conciliar o sono.
A angústia toma espaço, as pernas parecem receber choques elétricos, o coração acelerando, apertando, a boca seca não lhe deixando engolir a ansiedade da espera do raiar do dia. Voltar àquela cidade era tudo que não desejava, embora soubesse que um dia isso iria acontecer.
O velho morreu. O passado volta com força de presente.
Não suporta mais continuar deitado. Levanta devagar, com muito cuidado para não fazer barulho. Na cozinha, senta no tamborete junto à mesa. A angústia agora percorre o corpo, espalha-se pelo tórax. Os pensamentos confundem-se na cabeça. Vai até a geladeira e enche o copo de água, bebe pequenos goles, demorando com o líquido gelado na boca.
O velho morreu.
Temia essa notícia desde quando saiu de casa há quinze anos. Certa vez ele dissera. quando eu for embora para o andar de cima não quero choradeira, nem barulho, e você não precisa sair correndo, pois eu mesmo não gosto de nada apressado.
Agora teria de voltar àquela cidade. Ouve passos vindo do corredor.
-Você não dormiu, o que está acontecendo?
O silêncio seria a melhor resposta.
– O velho morreu.
– Oh, meu Deus!
Tenta abraçá-lo, ele apenas a segura pelos ombros..
– Eu quero ir com você
Ele não responde.
– Já sei, você prefere viajar sozinho
– É melhor assim. Voltar àquela cidade é tudo o que eu não quero.
– Vá tomar banho que eu arrumo a bagagem.
Estrada livre. Acende o cigarro. Os pensamentos voltam. O leito do hospital, a mãe deitada, o velho segurando as mãos dela. Ele e a irmã, sentados um pouco distantes, assistem o final da longa agonia. A mãe. Casa arrumada, o quarto dele sempre limpo, organizado, roupas, livros, tudo em perfeita ordem. Nada de abraços e de beijos. O afeto da mãe se manifestava pelo zelo.
O passado volta com força de presente.
Raiva guardada como uma mágoa que não se podia tocar, arde e lhe enche de revolta. Não roubara. A acusação diante dos colegas de ter roubado o dinheiro da cantina, pelos empregados do colégio, o deixara revoltado. Partira para a briga, mas foi logo contido pelos professores. Chorou, gritou indignado. Ninguém o ouviu. O velho foi chamado. Ele iria descobrir a verdade, esclarecer tudo, não permitiria tão grave acusação, pensou. Nenhuma palavra saiu daquela boca. Em casa, a solução. mudar de escola, ir para outra cidade, morar com o tio. Partiu com a injustiça na cabeça ocupando todo o espaço durante muito tempo, sem lugar para outras lembranças.
Quando chega no alto do monte, na entrada da cidade, pára o automóvel. O sol declina no horizonte, é o crepúsculo com todas as cores conhecidas. A cidade lá em baixo parece ter crescido em direção ao rio. A geografia daquele passado que insistia na memória.
Localiza o cemitério, a pequena casa que serve de central de velórios.
As pessoas se aglomeram na entrada. Ele era muito estimado na cidade. A irmã e a sobrinha vêm recebê-lo. As duas o abraçam fortemente. Engole a saliva (em seco) e caminha até o esquife. Todos olham para ele. Meio zonzo vê o rosto do pai. Quantas vezes o imaginara assim… Agora é diferente. Não há serenidade naquele rosto. A tontura aumenta, segura na borda do caixão, vira a cabeça para o lado evitando a fumaça das velas. Senta na cadeira que lhe trouxeram, respira devagar, procurando relaxar o corpo contraído.
Calor insuportável, com um lenço enxuga o suor. As mulheres rezam, o padre, amigo do morto, recita a primeira parte da reza e elas respondem alto. Tontura de novo. Os olhos fixos no rosto do pai. Não há tranqüilidade, ele parece ter alguma coisa para dizer. Lembra do gol que fizera, num jogo decisivo, e lá estava o pai aplaudindo. Domingo de manhã, na hora do café, em cima da mesa, o dinheiro da entrada do cinema. Continua olhando o velho, numa espera que só ele sente. Barulho ensurdecedor das rezas. Procura respirar fundo, a agonia continua. O lenço molhado já não enxuga as faces. Esconde as lágrimas, precisa controlar aquela situação. Volta-se para o rosto do pai e vê os olhos do velho abrirem-se. Você é o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Levanta, as mãos sobre o rosto, todos olham para ele, se segura na cadeira com medo de cair.
Novamente abre os olhos, vê de novo o olhar do velho e ouve a sua voz. Meu filho muito amado. O coração bate apressado. Mais distante. Filho amado. Encara o velho e vê os seus olhos se fecharem lentamente.
As rezas continuam entoadas como o eco de uma dor antiga.
Mais tarde, depois do jantar, a irmã puxa conversa, recordando os tempos de criança. Calado, olha para ela e diz.
– Como é bonita!
– O que você disse?
Sem responder, continua a contemplar a sala arrumada, a decoração alegre. Uma sensação de paz toma conta dele. Recosta a cabeça nas almofadas da poltrona e o olhar vislumbra o céu estrelado que aparece na janela.
O telefone toca e uma voz estridente.
– Oi, quero falar com
– Venha. Preciso de você.
– O quê? Está acontecendo alguma coisa?
– Venha. Quero você ao meu lado.
As damas de honra.
Vïúva jovem. Sabia-se bonita e querida desde criança. Duas filhas, mas não duas alianças como costumavam usar as viúvas. Chama muita atenção, dizia. Como se naquela pequena cidade alguém pudesse esconder o estado civil.
Encantava muitos homens. Todos queriam privar um pouco de sua intimidade. Escolheu um dentre muitos.
As meninas cresciam e a cada ano o casamento era anunciado. Enquanto isso, o namoro se arrastava, para aflição das filhas diante da situação inusitada. Tornou-se assunto tabu na família.
Sujeito estranho aquele. Solteiro. Sem amigos. Sem vida social. Negócios variados. Organizado financeiramente. O que mesmo o impedia de casar?
Crianças crescidas. A mais velha, estudando fora, semanalmente volta para casa. Como sempre, o casamento não passava da anunciação. Elas conseguiam falar um pouco entre si da situação. Se antes sentiam ciúmes da mãe, agora estavam mais ansiosas, torcendo para que o casamento se realizasse.
Até que a filha menor soube do que iria acontecer. Semana de angústia. Precisava falar sobre aquilo pessoalmente com a irmã. Teria de esperar pelo final de semana.
Enfim as duas se encontraram e a cumplicidade tomou novas proporções. Contaram para a mãe. Pois é. O cara está de casamento marcado com outra. Será amanhã. Domingo. Em uma cidade próxima. Todos sabiam, mas ninguém tinha coragem de falar.
Não se sabe como a mãe conseguiu dormir. Elas ficaram acordadas até tarde. Nada de partilhar a história com ninguém. Nunca se falou nada. Não é agora que se vai falar.
O domingo chegou. As moças se organizaram para ir ao casamento. Enquanto seguiam pela estrada de barro comentavam aos cochichos a aventura. O motorista percebeu a excitação que elas pretendiam ser velada, mas fingiram não entender o que o motorista pretendia saber.
Chegaram à Igreja. Postaram-se na frente bem dissimuladas e altivas como convidadas de honra. A raiva e o medo, de tantos anos, transformaram-se em coragem. Os noivos entram.
Agora, sim.
Tão logo eles se dirigiram para o altar, as duas se postaram ao lado do padre. Cochicharam algo. Pegaram o microfone. Trouxeram a certidão de um casamento ocorrido há vinte anos e a lêem para todos. Mal estar geral. Enquanto a noiva era socorrida, as meninas se esgueiravam pela lateral, sorrindo, porque ninguém pedira para conferir a certidão falsa.
Equívoco Providencial.
Naquela sexta feira Alice acordou atordoada com o toque do telefone, esfregou os olhos para ver se estava realmente acordada ou tivera um pesadelo. Só podia ser Anabela ligando para acertar os detalhes. Não estava de fato muito certa se queria ou deveria viajar sozinha. Anabela convenceu-a -. Afinal, ela fora sempre amiga prestimosa, única confidente. Reginaldo viajara a serviço da empresa, ficando ausente por mais tempo, não podia perder essa oportunidade, era o momento certo para tirar suas dúvidas.
A viagem de ônibus leito climatizado, apesar de confortável, não deu para relaxar. Também pudera! A mente, um turbilhão de lembranças, sentimentos, emoções e expectativa. Continuava apaixonada, ele ainda era o amor de sua vida. Um flash inesquecível do primeiro encontro! Ela assistente social do Centro de Saúde, de Jabaquara, ele representante de laboratório, alto, moreno, bem apresentável. Foi amor ao primeiro olhar, eletrizante. No final do expediente, saímos para nos conhecer. Ainda penso que nosso encontro, foi uma conspiração do Universo. Não posso nem imaginar um retrocesso!
Na verdade os dois têm muitos pontos em comum, ambos de origem nordestina, ela de Penedo, conserva ainda resquícios da origem simples, provinciana, ingênua, fervorosa como sua mãe, senhora de Caridade das Irmãs Vicentinas, foi estudar em Maceió. A sua mudança para São Paulo foi uma benção especial das orações de sua mãe e interferência da Madre Superiora, diretora da Faculdade de Ciência Social. Reginaldo, paraibano de Cajazeiras, foi levado por um tio para o Sul e se adaptou muito bem à vida metropolitana.
Reginaldo apareceu num momento abençoado, próximo à Páscoa, ela sente ainda um frio na barriga ao lembrar o primeiro olhar, o porte distinto, envolvente, ela quase não conseguiu responder ao seu cumprimento.
Na ocasião ele estava com a vida ajustada, morava sozinho num apartamento de dois quartos, livre e desimpedido, permanecendo mais tempo na capital, e estava empenhado num curso para tornar-se vendedor. O namoro teve início de maneira tranqüila, sem deixar de ser impetuoso, ele demonstrava ser sério e responsável. Não fora fácil se entregar àquele amor: Precisei vencer os escrúpulos, condicionamentos religiosos, até que enfim, não deu mais para segurar…
Logo acalentou o sonho de engravidar e de serem transferidos para Fortaleza. O primeiro sonho ela ainda não conseguira realizar, mas a transferência não tardou e trouxe mudança radical para a qualidade de vida deles.
Uma parada brusca, um suspiro, algumas lágrimas rolaram. Era ainda madrugada, o céu estrelado, a brisa leve, corre um frio na espinha, Santo Deus! O que estou faendo aqui? Por que, minha Mãe Santíüüssima, decidi acolher a doidice de Anabela e checar as suas insinuações? Como vou me apresentar, saber quem é a Dona Mindu…
Nos últimos meses, Reginaldo mostrava-se nervoso, irritado por qualquer coisa, alegava a grande responsabilidade como Chefe de Departamento, o que o obrigava a viajar com mais freqüência. Resistira à angústia, mas às colegas não conseguira disfarçar. Anabela procurara dar-lhe mais apoio, o que a confortava de certa maneira, ela bem mais experimentada na vida alertara. A mulher de h0 não pode ser mais ingênua. É preciso estar mais atenta aos pequenos detalhes.
Ela resistiu à idéia de traição, mas na verdade, há mais de dois meses ele estava diferente, pensativo, com ares de preocupação. Enquanto ele preparava relatórios, notas de compra, recibos, ela cochilava na poltrona do escritório, ouvindo música, dando asas à sua imaginação… As palavras da colega reverberavam em sua mente. Busque algum indício do porque da mudança. Passividade e conformismo não combinam mais com a mulher moderna.
Resolveu mexer nos papéis e encontrou canhoto de duas passagens para Natal, uma remessa em dinheiro e um endereço. Bairro do Alecrim. Rua Bom Jardim, 220, Natal. A dúvida acaba qualquer relacionamento.Será que isso tem a ver com a família dele, ou alguma aventura? Será que fui precipitada? Agora, não adianta, é ir em frente e pronto!
Depois de um cochilo mais prolongado, parece que relaxei um pouco. Oh! minha Mãe do Céu e da terra, cuide de mim guie meus passos, peça ao Bom Deus para dar tudo certo! Continuou de olhos fechados alheia a tudo, quando a vizinha a chamou. Chegamos! Alice agradeceu, era cedo antes das oito, pegou a bolsa sacola e foi procurar uma igreja, havia terminado a missa das sete, ela estava vazia. Amém, Jesus! A oração e o silêncio fizeram-lhe grande bem.
Apanhou um ônibus que a deixou no bairro do Alecrim. Saltou em frente a um bar e procurou pela rua Bom Jardim. Estranho como os homens a olharam, um deles falou que era melhor ir de mototaxi. Adiante, avistou um salão de beleza. Ela estava vestida de calça jeans, blusa leve e um casaco preso na cintura. Foi olhada da cabeça aos pés. A dona, amavelmente, ofereceu um cafezinho e água. Olhei-me no espelho. Nossa!Que cara enfarruscada é esta dona Alice! Retocou a maquilagem e agradeceu as indicações. Ao sair, uma jovem simpática ofereceu-se para acompanhá-la. Chamava-se Irene. Enquanto caminhavam, ela falou que morava mais adiante do outro lado, sua mãe chamava
se Lindu, e era muito conhecida por ser assistente social do bairro.
Alice estava confiante, mas apreensiva, logo avistou a casa que procurava, a rua estava deserta.Não tinha campainha? Bato palma, ou na porta? Bateu uma, duas vezes, ouviu uma voz lá de dentro. Já vai ! Quem é? Quem deseja?Abriu o postigo. Olhou
a espantada. Não a conheço! A atendente com o cabelo no bobe parecia encabulada pela aparência, quis se descartar da intrusa.
– É aqui que mora dona Lindu?
– Quem? A senhora está enganada!
tentou fechar a porta.
Alice insistiu.
– Vim de Recife e trouxe noticias de uma amiga dela..
– Ora, essa senhora não mora aqui, vá procurar noutra freguesia!
– Não poderia ser mais educada?
A outra fechou bruscamente o postigo, mas antes disse.
– Por que não vai se queixar ao vigário?
Lá dentro ruídos de vozes alteradas, algazarra de crianças… Gostaria de sumir. Então ela se lembrou de Irene. Logo a encontrou. Que alívio!.
– Mãe! Venha conhecer a moça que encontrei no salão. Ela logo percebeu que a visitante precisava de ajuda, estava pálida e suando muito.;
– Entra criatura, venha para o terraço, lá atrás está mais ventilado.
Alice sentou-se na cadeira de balanço, o olhar vago e distante, não sabia o que dizer. Estava atônita! Não sabia como agradecer o encontro com Irene. Alice queria falar, mas não estava em condições.
– É melhor que você descanse um pouco. Posso fazer uma massagem relaxante para diminuir as suas tensões?
A aplicação do Reiki e as gotas de Kescue na água de coco foram providenciais. Enquanto ela dormia mãe e filha confabularam como dizer para ela que conheciam em parte a sua história.
– É melhor que ela viaje o quanto antes. É bom não ser vista nas redondezas.
No percurso que elas fizeram para deixá-la na Rodoviária, Alice relatou tudo que vinha rememorando. E teve um estalo! Quando fui bater na casa 220 perguntei se era a casa de dona Lindu.
Enquanto isso a casa de Dona Mindu estava em rebuliço. Raimunda ou dona Mindu, a filha Regineide e o marido se perguntavam. Quem era a dita moça. O nome ela não dissera, mas falou que trazia notícias de uma amiga que morava não sei aonde, também o alvoroço dos meninos. Sei que não é daqui, tem um sotaque diferente, agora tinha uns traços que eu já vi em algum lugar.Não foi na novela? Reginaldo está para chegar, pode ser que tenha alguma pista, disse o genro, com malicia. Não queira ser santo seu Osvaldo! Vamos tirar isso a limpo! Reginaldo há muito escondia o seu nervosismo,
que se acentuou nos últimos meses. Reconhecia o interesse da mulher em conhecer sua família. O pai de família burguesa falida, de olhos claros, deixou a mãe afro-descendente semi-analfabeta cuidar sozinha dos quatro filhos. Como encarar a sua resistência em apresentá-la? E agora essa tempestade! Ele tinha que ser muito homem para enfrentar mais esta! Saber o resultado do DNA de um garoto de quatro anos que não sabia até um mês atrás de sua existência, fruto de uma paquera no maior São João do mundo em Campina Grande. Era a crioula mais requisitada do lugar, e se mandou com um gringo. Voltou agora para descobrir o verdadeiro pai do garoto. Dos animados forrozeiros, ele foi o último a fazer o exame por ordem do juiz. E agora, como Alice vai agüentar essa parada?
Cena anunciada.
Vânia Campeio.
Um dia, ele chegou de mais uma longa ausência e passou direto para o quarto. Lá dentro, foi se livrando das peças da roupa que vestia e se dirigiu ao banheiro. A expressão do rosto mais sisuda do que de costume recordou à esposa um velho recurso usado para desestimular qualquer conversa. Apesar do silencioso recado, ela foi atrás do marido e pôs-se a recolher as peças jogadas desleixadamente pelo meio do aposento. Deu início então ao doloroso monólogo, algo como se desculpasse por lhe dirigir a palavra e um medo enorme de incomodá-lo mais do que o silêncio dele. Daquela vez, porém, mal pronunciou a primeira palavra, ouviu a voz de João, resoluta e nervosa ao mesmo tempo. Num ímpeto, foi falando, curto e grosso. Eu não posso mais dormir com você, Selma. Por favor, não venha reclamar ou me aperrear por uma coisa que não tenho culpa; Estou impotente.
O susto foi tão grande, que a coitada da mulher caiu pesadamente numa cadeira. Sufocou um grito na garganta. Botou as mãos na cabeça. Pensou. Talvez não tivesse ouvido bem. E foi num fio de voz que perguntou.
– O que?
– O que você ouviu mesmo. Hoje passei pelo consultório de doutor Fernando e ele me recomendou que dissesse a verdade e assim poderíamos evitar brigas desnecessárias.
A mulher não conseguia dizer nada. Muda, sentada, parecia ter visto alma.
– Mas não pense que vou deixar a casa, prosseguiu, continua tudo como antes, só não vamos mais nos deitar juntos.
Dito isso, saiu do quarto aliviado e satisfeito por ter dado um paliativo a um problema que vinha se acumulando há muito tempo e só fazia mal aos dois. Pensou o quanto seria terrível para a esposa. Foi o seu primeiro namorado, viveram uma linda paixão por alguns anos, mas àquela altura, 25 anos de casados, a magia fora embora, o carinho acabara, restava apenas o respeito pela mulher forte que tudo dera de si a ele próprio e aos filhos dos dois. E agora, a paixão que vivia com outra pessoa… Foi para o banheiro.
Pela cabeça de Selma desfilaram os sofrimentos dos últimos anos. Amava aquele homem desde os quinze anos, quando começaram a namorar. Por ele desafiou os pais pela primeira vez, certos eles estavam de que não daria certo o casamento com um rapaz de família desfeita, pais separados, filhos desajustados… Em vão.
Apesar da confissão, a mulher mantivera acesa a mesma chama do início e desejava
o ardentemente nas noites em que dormia em casa, o que acontecia cada vez mais raramente. Ficava, porém, enlouquecida, pois, ignorando a tortura que causava, Rui conversava noites a dentro com amigos que o iam visitar, ou com os filhos, e usava o recurso último que era ver os filmes na televisão. Tanta espera torturava a coitada da Selma, que não conseguia dormir e acumulava cada vez mais ressentimentos em seu coração.
Dia após dia, ano após ano, repetia-se aquela agonia e desespero. Por outro lado, gradualmente os sentimentos foram se transformando em pensamentos de vingança e até de morte. As cenas de choros e acusações deram vez a ameaças de tirar a vida, em rompantes que a levavam a sair de casa e a passar horas pela rua, sem que ninguém soubesse do seu paradeiro.
Selma começou a desconfiar das empregadas da casa. Queixava
se às filhas que elas viviam de enxerimento com Rui, que adoravam o patrão, e ele, por’ sua vez, era todo agrados e liberdades com as vagabundas. Era uma tortura que envolvia cada vez mais os filhos e parentes mais próximos na tumultuosa relação do casal.
Havia ilhas de serenidade, quando o homem viajava e demorava-se um pouco mais. Um dia, no aniversário, Selma,em parte por ter bebido, outra por puro despeito da ausência do marido resolveu revelar o segredo que lhe remoía a alma. Chamou uma das filhas e contou-lhe sobre a impotência do marido.
– Seu pai disse que não pode mais ter vida sexual comigo porque está impotente.
Letícia ficou com uma pulga atrás da orelha, pois já ouvira rumores sobre namoros do pai pelo interior, boatos trazidos por parentes e que eram silenciados em casa.
– Quando foi que ele lhe disse isso, mamãe?
– Faz uns seis meses, bem na véspera da formatura de sua prima Fátima.
Os anos se passaram e àquela altura Rui quase não aparecia em casa. Estava praticamente estabelecido em outra cidade e, quando chegava eram brigas sem fim, regadas a ameaças, histeria, desmaios… Selma deixou de fumar, falou mal do marido a Deus e o mundo, embora os dias continuassem a nascer do mesmo jeito e a vida rolasse em seu leito, indiferente aos tormentos da boa senhora,
Um dia, a família recebeu convite para o casamento de Fátima, a sobrinha de Rui. A recepção seria restrita a alguns parentes, na casa dos pais da moça. Lá, entre gente conhecida, Selma avistou uma antiga empregada, agora muito bem vestida, a conversar com segurança e desenvoltura por entre os convidados. Aproximou-se e cumprimentou-a.
– Cacilda, como vai?
E a moça, apanhada de surpresa, toda acanhada, respondeu.
– Dona Selma, que coisa boa ver a senhora por aqui. Como está nova, bonita. Como vão os meninos?
– Quase todos casados, só os dois mais novos estão ainda em casa.
– Quantos netos a senhora tem?
– Cinco …
Selma, porém, não pode iniciar nova frase, aproximou-se das duas uma menina bonita, de olhos grandes, cabelos claros e dirigindo-se à antiga empregada falou.
– Mamãe, por que você disse que meu pai não vinha hoje?
– É sua filha? perguntou a ex-patroa,
– É, sim senhora.
– É muito bonita. Puxou a criança para perto de si e indagou.
– Quantos anos você tem, menina linda? A menina permaneceu calada e a mãe respondeu por ela.
– Vai fazer sete anos.
Assim dito, pediu licença e conduziu a garota para fora da sala. Ao levantar-se para cumprimentar uma conhecida, Selma sentiu uma leve tontura e por isso, segurou
se no piano ao seu lado.
Naquele instante, na soleira da porta aberta, feito uma aparição, surgiu Rui. Selma, paralisada, segurou-se com mais força ao pesado instrumento, com medo de cair diante de todos. Entretanto, como num sonho, acompanhou a cena irreal que se seguiu. A filha de Cacilda – a ex-empregada – correu para o recém chegado e, num misto de alegria e surpresa gritou.
– Papai, você veio!
E jogou-se nos braços do marido de dona Selma, cobrindo-o de beijos. A mãe da menina, entre incrédula e constrangida, ficou paralisada. Dona Selma sentiu o mundo escurecer e sentindo-se impotente para reagir, entregou-se à surpresa e desabou no chão.
Minha essência é inconsciente de si própria
e por isso me obedeço cegamente.
Água Viva.
Um quarto no quarto.
Edwiges Caraciolo Rocha.
Gestos velados, olhares furtivos… Havia um platônico lirismo entre eles e assim passaram-se dias, semanas, meses, anos a fio, até chegar aquele dezembro.
Todos na empresa desfrutavam da confraternização natalina e Gilda já experimentava a euforia do uísque, quando Augusto aproximou-se e falou num meio sussurro.
– Gilda, você está povoando há muito os meus sonhos, o que faço?
Ela foi tomada de arrepio pelo corpo. Respirou fundo, recompôs rapidamente as idéias, e, com aquele jeito que toda mulher sabe fazer quando está diante de um homem do seu agrado, respondeu-lhe:
– O que mais um homem deve fazer quando sonha com uma mulher casada?
E sem esperar resposta, acrescentou:
– Talvez, continuar sonhando.
Alguém da outra sala chamou-a e ela afastou-se deixando Augusto aturdido.
A festa chegou ao fim. Gilda e Augusto despediram-se e o simples roçar das suas mãos teve o efeito de um redemoinho em sensações.
No percurso de volta para casa, Gilda entregou-se a devaneios e teve medo de que os seus olhos dissessem o que a alma queria ocultar. Nessa noite, quanto mais o marido a acariciava, menos ela o desejava.
– O que há Gil, bebeste demais ou já não tens tesão em mim?
– Não, não é isso, Zeca. É que eu não estou passando bem. Preciso dormir. Boa noite.
Ele logo adormeceu, ela não conseguiu, ora a cabeça ardia em culpa ao olhar para o marido ao seu lado, ora o coração acelerava de prazer ao lembrar-se do que lhe dissera Augusto. Vencida pelo cansaço, dormiu e sonhou o desejo mais novo.
O fim de semana em família serviu para desviar-lhe a atenção, ela quase esquecera a excitante noitada da sexta-feira e o misto de dor e prazer daquela noite mal dormida. Prometeu a si mesma evitar situações de maior proximidade com Augusto e sufocar ímpeto capaz de por em risco o seu casamento. Sentia-se absolvida dos pecados que ela própria julgava ter cometido em pensamentos, palavras e gestos.
A segunda-feira a aguardava na empresa.
– Bom dia, Augusto, a entrevista marcada pra hoje foi cancelada, não vou precisar sair da empresa, disse Gilda, procurando demonstrar a mesma naturalidade de antes, ao cruzar com ele quando se dirigia à sala de trabalho.
– Ótimo, assim poderemos finalizar a pesquisa e a montagem dessa matéria que o prazo termina amanhã. Posso contar com a sua ajuda?
-Claro, desde que não passe das dezoito horas, quando for começar é só ligar pra mim.
E assim foi. Ele chamou a cerca de uma hora antes de encerrar o expediente.
Bastou um insubordinado olhar nos olhos, um teimoso encontrar de mãos, e tudo ficou do jeito que o diabo gosta.
Qual lava vulcânica escorrendo crepitante da cratera o desejo em impulsão os fez rolar por sobre a mesa, sofregamente abraçados, arquejantes, as bocas unidas num frêmito de lábios a sugarem–se mutuamente. Horas que foram de eternidade em volúpia e indizível gozo; em satisfazer desejos reprimidos sabe-se lá há quanto tempo. Tudo explodiu de dentro deles e se fez carne sobre a carne, impulso sobre o impulso, num comando que nem Deus nem o Demônio conseguiriam mais deter. A austeridade da sala recolhia-se, resignadamente, na cumplicidade de um quarto para os amantes viverem a sua paixão.
O tilintar do telefone foi seguido de um baque de abrir e fechar porta do elevador situado perto da sala. O barulho os trouxe de volta à razão. Gilda dirigiu-se apresessada ao telefone, mas logo chamou Augusto e, ainda com algum rubor nas faces, disse-lhe ser Ceres, a esposa dele. No limiar da sala, o guarda do prédio desculpava-e por interrompê
los e anunciava que o marido de Gilda a esperava na recepção. O relógio da sala tinha os seus ponteiros na marca das vinte e duas horas.
E todos saíram do prédio, onde o silêncio e a escuridão agora eram os amantes que se abraçavam, com o beneplácito de um sonolento vigia.
No carro, ao lado do marido, Gilda pensava no que acabara de viver e no que teria de fazer com a marca roxa que lhe ficara no pescoço, por ora escondida sob a gola alta da sua blusa.
Augusto, enquanto dirigia de volta ao lar, sorria e apertava nos dedos o botão desgarrado da camisa que pediria para a sua mulher recolocar.
Um quarto naquele quarto andar ficou à espera.
Des(a)tino.
Glauce Chagas.
Cidade pra me lembrar Paris venho todos os dias trabalho aqui é como outro qualquer senão não como e não pago o aluguel do quarto sempre atrasado quando preciso de remédio tenho que pedir a um doutor que passa a passos largos quase correndo de branco engomado sento-me com esforço nessa calçada de pedras vermelhas que me doem no traseiro é esforço pra sentar dói-me a coluna dos baques da vida sofridos ainda uso o paletó puído amarrotado que me emprestaram quando fui viajar não devolvi é um trabalho vestir a viagem arranjei com um tio-padrinho político fui também aprender a fazer política junto com os estudantes jovens de ideais barulhentos pessoas subindo e descendo essas pontes todos os dias venho aqui vejo pessoas coloridas velhos e crianças muita zoada saias curtas pernas bonitas essa ponte escolhi porque é bonita diferente das outras parapeitos róseos rendilhados e lampiões outrora de gás cidade luminosa cheia de sol viva ambulantes muita gente Paris sonho com as pontes mas lá não tem o brilho daqui tempo bom aquele que me arranjou viagem de estudo paletó emprestado pobre mãe eu vivia tremendo de frio neve caindo diferente do sol escaldante daqui tô ficando preto se não fosse o chapéu velho que mal entra na cabeça venho todos os dias a hospedagem simples na mocidade dava pra suportar às noites sempre que tinha uns trocados sim a ponte sempre venho pedir dinheiro aqui e me lembro de lá o povo vê sempre o mesmo velho pedindo esmola esse que sou não tenho essa idade toda da minha cara rugosa não era pra estar assim parece obra do destino muita gente passando aqui.
Sempre o mesmo velho pedindo esmola, tenho é pena dele, boto sempre umas moedas na cuia de alumínio toda amassada, só uns centavos, jogo ali até pra tirar o peso da consciência e também ouvir aquela zoadinha da moeda caindo na lata. Já faz parte do meu início de dia. Que cara ele… Mesmo com aquele paletó podre não sei se cinza ou de sujo, cabelos ralos, brancos, tez tostada pelo sol na ponte. Às vezes me pede remédio, parece que era homem bonito quando jovem; tem certo ar fidalgo, feições delicadas, nariz alongado, olhos meio claros, óculos embaçados, não dá pra ver direito… Ando correndo, as pessoas me atrapalham para ver o velho vi suas feições abaixei-me pra falar com ele, sua voz fraca, tinha de ser bem de pertinho. Foi quando vi sua cara melhor. Ele me parou um dia pra pedir remédio, tinha dor na barriga, me viu todo de branco; talvez verme ou outro problema, ti-rei do bolso uns comprimidos pra dor, a outra dor eu não tinha remédio a dar, o destino era o culpado. Mas tinha alguma coisa nele que me tocava…à noite sempre que conseguia uns trocados ia ver as dançarinas muitas latinas morenas a dançarem aquele colorido mulheres bonitas pernas bem-feitas mostrando bumbuns volumosos eu um pobre estudante só tomava a dose que o ingresso permitia o mesminho paletó amassado cinza comprido um lenço de tanto uso já encardido no bolso a calça a não combinar com nada e muito curioso daquelas cenas ela parecia uma espanhola saia rodada de babados de renda preta morena cabelos e lábios bem vermelhos uma rosa também vermelha logo na testa uns dentes certinhos alvíssimos alegria contagiante muita dança muito rodopio muito bumbum de fora música envolvente eu balançava o corpo também e me deliciava ia sempre que podia andava a pé por aquelas ruas cheias de vida de carros a buzinarem uma festa gente pra lá e pra cá sentava nas mesas da frente só pra ver ela dançar me sorria um garoto ela dos seus já trinta anos bem conservados a morena até que a coisa aconteceu desceu do palco e sentou-se quase no meu colo com languidez inesperada eu quase desmaio um menino não tinha canto para estar a não ser roçando com ela toda suada da dança uma fortaleza junto a um pobre diabo.
Ele pensa que sou médico, só tenho mania de doença, daí trago alguns remédios comigo para as dores diversas do corpo e também da alma, perdido que sou, família desarrumada. O mendigo… ainda bem que os comprimidos são inofensivos. Vida monótona a minha da casa pro trabalho e do trabalho pra casa, assim mesmo, corro muito pra me livrar de alguma coisa que não sei ainda, quase um maluco, sem amigos; a mulher meio fraquinha, uma vida sem prazer. O mendigo, quem sabe, o velho está melhor que eu, passo a maior parte do tempo no trabalho, só tem loucos, fico com medo de ficar louco também; tô ali só por causa dela, botaram lá porque era mais fácil de cuidar; as loucas tomando choque, um vozerio de frases sem sentido, tiram as roupas, correm pra me agarrar, gostam de mim, a de casa não agarra nem danado… ela me seduziu a danada o curso foi pro beleléu amor roxo muito boa ela carinhosa comigo momentos bons de muita vida meio irresponsável sumia uns dias pra dançar noutras cidades depois voltava com muito mais amor sangue quente uma vez passou mais tempo fora desapareceu a ponte hoje tem é gente por aqui tive que voltar o dinheiro do tio parou não soube de nada dela mais só uma carta de uma mulher de lá dizendo do desastre que ela teve e do filho luta politica a prisão o sofrimento os feitos poderosos dos homens maus eu homem aniquilado escondido definhando o rosário de penas dia a dia saúde fraca e isso aqui em que me tornei nem tão velho só do penar nem sabia que estava grávida o filho talvez meu sobrevivera do ventre da morte depois ninguém diz os anos que tenho… todo dia vejo ela dizem que enlouqueceu pela mentira, pegou um filho que não era o seu, roubou a criança, a cabeça lhe doeu do remorso e a pena, a loucura, não sabia quem era nem reconhecia seu filho naquele que estava ali todos os dias; tirei o menino, tirei o menino,ela gritava sem parar só eu sabia porquê. O velho, de novo, muita gente ao redor dele, parece estar com algum problema, pensam que sou doutor, peguei o velho, gelado, tentei dar vida a ele, inútil me tornei diante da mais poderosa sorte ao lhe tirar o último sopro de vida, peguei ele no colo com ajuda e levei-o para o hospital, logo, logo fui bater no endereço anotado com letras tortas no paletó desbotado, talvez tivesse mulher ou filho, um quarto lúgubre fedorento; tive que chutar até um rato morto, botei as mãos nuns papéis e nu-mas velhas fotos de onde aparecia desbotada a imagem de uma dançarina, um envelope azul e vermelho, fotos coloridas, linda mulher e uma só de um moço de seus 18 anos, alto, nariz afilado, paletó cinza, como o do velho, cabelos revoltos, um ar de fidalguia. era o mendigo, novo,ria, ao fundo, reconheci uma outra paisagem. Estranho, um aperto no coração, me senti aquele da foto, como num espelho, me pensava daquele mesmo jeito, um turbilhão de imagens, a cara dele, a ponte, o sol, a tigela de alumínio, o paletó cinza, a mãe, a louca, tirei o menino!…
Moonlight serenade.
Gleide Peixoto
Frade quase santo. Italiano. Trinta anos no Brasil. Piedoso. Dizem que suas mãos têm poder curativo. Sua presença estanca hemorragias e cura dores do corpo e da alma.
O convento fica em uma praia deserta. Alguns monges e vários seminaristas. Rotina típica de convento. Não fosse por um detalhe. Noites mal assombradas.
Depois de todos recolherem-se à solidão do claustro, o silêncio é interrompido por vozes sussurrantes, gemidos, tilintar de copos, passadas, música. Parecem trazer todos os vícios e pecados de quando viveram. Às vezes parece que alguém dança.
Antes do alvorecer, a vida monástica retoma seu curso. Um ou outro fala sorrateiramente sobre os ruí-dos noturnos. Para alguns, eles já fazem parte do cenário. Dizem que o frade piedoso recebe almas penadas que lhe rogam por ajuda divina. Sua figura bondosa, mas altiva, impede que qualquer noviço aborde o tema. Todos silenciam em sua presença. As almas não vêm todos os dias. As almas vêm todos os dias. Coitado não tem paz. Deve dormir pouco. Ele deve salvar muita gente. Este assunto é pecado. Quem já viu católico lidar com almas penadas? Isso é contra todos os nossos credos. Não sei. Dá um medo…
Pequena vila de pescadores. Estranhos aparecem vez por outra. Hippies? Loucos? Gente de pouca conversa. Alguns ficaram para sempre. Figura estranha. Misteriosa. Dizem que é estrangeira. Ela é grisalha e esbelta. Sem nome e sem amigos. Fala-se que só sai à noite. Quando tem lua, mergulha nua no mar. Uma doida.
Hoje, antes do terço das dezoito horas, o rádio tocou Moonlight,S‘erenade. Foi de arrepiar. Ave Maria! Isso é pra gente respeitar mais os mortos e as almas do outro mundo. Quem sabe se Deus, em sua misericórdia, não permite que elas venham pedir socorro ao irmão?
Pouco antes da ordenação, as dúvidas de sempre. Terei eu vocação? Será que estou atendendo realmente ao chamado divino ou Deus me quer em outro lugar? E todos estes votos? Pobreza, castidade, obediência? Não filho, isto acontece a todos. Os padres mais devotos são acometidos por dúvidas. Vá se divertir um pouco. Faça como os jovens da sua idade e você vai ver que isso vai passar. Ficará mais fortalecido pela fé.
Cerimônia de ordenação emocionante. Pais, irmãos, amigos. Tudo perfeito. Ela. estava lá. Deus me ajude. Sei que para os melhores estão guardadas as grandes tentações.
Durante aquela noite e muitas outras depois, só tentação. Meu Deus! Afaste satanás de mim! Sei que é ele teu e meu inimigo. São Francisco dá-me força. Tu que dentre os santos és o maior porque falas com os pássaros, as árvores, a lua. Muita reza, muita oração. A exaustão da luta conduz ao sono. Diabo. Deixe-me dormir. Quanto sonho perturbador! Continuo pecando sem querer! Preferia nunca ter provado daqueles prazeres!.
Viagem para exercer sacerdócio no Brasil! Alegria! Excitação! De repente a energia se concentra toda na viagem. Só Deus para fazer este milagre. Quem sabe serei um pouco como São Francisco? Ah! Essa vaidade que sempre me persegue! Penitência resolve. Muita penitência!.
Depois de muitos anos… Meu Deus! É ela. Tenho certeza. Dei-lhe a comunhão! Não consegui mais me concentrar. Deus me ajude a terminar a Missa. Como Deus pode fazer isso comigo? Meu São Francisco! Estou questionando Deus. Como posso?
Daquele dia em diante tudo mudou. Manteve-se ocupado como sempre. Visita doentes, dá unção dos mortos, casa e batiza. Orienta toda a comunidade e é querido. O convento é bem reconhecido como um lugar de piedade cristã onde os noviços recebem excelente formação litúrgica.
O sino toca para as primeiras orações. Todos já es-tão prontos para iniciar as preces. Como? É, realmente, não o estou vendo. Logo ele que é o primeiro a chegar.
Vamos iniciar. Acho que as almas deram muito trabalho esta noite. Coitado! Deve estar exausto. Você ouviu o barulho? Realmente é um homem santo. Tão humilde! Não faz alarde da sua capacidade para ninguém.
Temos que arrombar a porta. Meu Deus! Meu São Francisco! Já está no céu. Feche a porta. Não precisa que todos vejam. Só depois de pronto.
Minha Nossa Senhora! Que abertura é essa aqui no chão. Um túnel. Será que a almas vinham por aqui? Ave! Nossa Senhora! Feche os olhos para não pecar. Mas Deus sabe que a gente tem que tomar as providências. Que escândalo! Roupas íntimas de mulher. Taças ainda com vinho. Um Kama-Sutra. Na velha vitrola… Moonlight Serenade.
Aloof.
Mônica Raposo Andrade.
Não precisava indagar sobre o endereço, pois muito bem sabia o lugar onde morava há dez anos, numa daquelas casas iguais, da rua em frente ao cabeleireiro, o então vizinho do bar da esquina. Aquela hora da tarde, Tony estaria certamente concluindo o serviço, pois grupos de jovens e senhoras saíam sorridentes de satisfação pela nova aparência que, diga-se de passagem, nem sempre melhorada. A vizinha, bem vestida e penteada, fingia regar o jardim e não poupava sorriso generoso em direção aos frequentadores do bar, que apostavam entre si sobre o estado civil daquela e de outras que passavam perfumadas na calçada do bar. Quem sabe, admito, já apostavam secretamente até numa possível conquista ou aventura amorosa.
Era final de tarde, quando todos retornam do quotidiano invariável, com pensamento absorto no trabalho do dia e tentando delinear idéias, ainda nebulosas, para o dia seguinte, quando dirigia-me à casa. Era um renque de casas de aspecto elegante e algo eclético no estilo. Todas tombadas pelo patrimônio histórico, certamente muito mais pelo estado de preservação impecável do que mesmo pelo valor de antiguidade.
Observando o cenário ao lusco fusco, de movimentação narcisista, e absorta nos pensamentos, inseri a chave na porta de casa. Como não abrisse de imediato, logo veio alguém e me recebeu com sorriso, saudando-me à maneira oriental, curvando-se gentilmente e de maneira cerimoniosa. Apesar de apressada para adentrar-me, detive o passo ao encontrar o Senhor Wooh, vizinho distinto, que nos fazia uma visita ao anoitecer. Com alguma surpresa desculpei-me pelo atraso, assegurando que meu marido logo chegaria, pois a demora se devia ao tráfego intenso próprio da hora.
Mesmo assim, adentrei-me um pouco mais, sem, contudo, ultrapassar a soleira da sala de estar, onde o sofá estava coberto com uma manta amarela que eu desconhecia ou simplesmente não retivera na memória visual. A nova manta amarela estivera, certamente, guardada há muito tempo e, num ato de boa vontade, a empregada a havia exposto no sofá, o que me trouxera agradável surpresa.
Naquele momento, veio-me a idéia de desculpar-me pela informalidade e desarranjo da casa e de oferecer-lhe um café ou suco enquanto esperávamos meu marido, quando, de súbito, constatei que a geometria mourisca do mosaico hidráulico no piso da sala de estar era diferente da minha. Um tanto confusa, comecei a conjeturar o que estaria acontecendo, pois outros detalhes na janela que emoldurava o jardim e na cornija neoclássica, que no alto das paredes se desenvolvia, também não correspondiam à lembrança que guardava da minha sala.
De repente, que susto! Que embaraço! Estaria eu na minha casa? Abalada pela dúvida fui tomada por tal bloqueio que esqueci até o nome monossilábico do gentil visitante, que continuava a sorrir para mim sem nada falar. Afinal, quem era a visita? Era ele? Era eu? Com a suspeita de ter entrado na casa vizinha, tudo parecia sem saída. E agora, como explicar? O que dizer? Eu pensava no que fazer para não demonstrar ser totalmente aloof. Como pode ser que poucos minutos de reflexão confusa, em busca de uma saída, pudessem se transformar numa eternidade?
Galos na madrugada.
Teresa Sales.
O que é, o que é, que somente a noite pode faer? Adivinhação contada por um velho na varanda de seu casebre com uma mesa, duas cadeiras e um anúncio de Coca Cola, e onde paramos para uma pausa no calor sertanejo da Serra da Capivara no Piauí. Pois é a madrugada, dona moça.
Queria abraçar a moça de cabelos cor de mel, mas ela tem medo. Todos têm medo de mim. Queria lamber seu rosto, sentir seu cheiro de fulô do mato, chupar seu leite doce.
Vou passar a noite de vigília ao pé da porta, só espiando os suspiros dela e ouvindo o silêncio assombroso da noite. Os galos, com o clarão da lua, já começaram uma sinfonia, uns respondendo ao canto dos outros e os grilos fazendo coro. E ainda são quatro horas da madrugada. Brisa suave, como a carícia que eu quero fazer no rosto da moça, balança as folhas do marmeleiro e do velame, cheiro que perfuma a noite enluarada.
Os galos dominam a madrugada com a monotonia das quatro notas ritmadas e tristes de seu canto e a moça dorme serena, sem saber que eu espero por ela espiando a lua prateada brilhando no céu. Com a moça, dorme a natureza o sono profundo que antecede o alvorecer.
Tenho medo do latido angustiado e distante dos cães.
A madrugada caminha e o rei daqui a pouco vai chegar com o cortejo de pássaros. Ele não pode me encontrar aqui, o rei malvado do sertão que seca rios e açudes e mata os bichos indefesos.
Quantos serão os galos que cantam? Sei não, só sei que quem rege a orquestra é um galo velho e rouco. Som dolente da última e arrastada nota, enquanto grilos fazem toada de uma nota só.
Espero paciente pela moça que não vem.Quando o rei chegar eu tenho que desencantar e eu pressinto a sua chegada. Atrás da montanha aparece já um primeiro sinal do clarão do rei.Desponta, encarnada, a barra do dia. A minha sombra no chão vai desaparecendo aos poucos com o esmaecer do brilho da lua que se parece cada vez mais com uma pintura de papel e não mais uma lua de verdade. O vermelho atrás da serra vai se transmudando no amarelo-ouro das vestes matutinas do rei. A chegada triunfal é anunciada pelo coro dos passarinhos madrugadores, alvoroçados e alegres, que levam pra longe o canto lânguido e triste dos galos da madrugada.
Aparece enfim o majestoso rei trazendo a vida, tão absoluto em sua claridade que esconde, por momentos, a maldade de seus raios inclementes sobre a natureza agreste do sertão. E eu, eu já desencantei. Sou onça suçuarana e espero a noite de lua cheia do mês que vem pra tentar de novo a moça de cabelos cor de mel.
Recife, 2006
Remininsônia.
Existe um tempo em que as coisas da vida se fundem e se esgarçam no embaçamento da memória e no acumular dos novos conhecimentos. Despidos das emoções do momento, importa a forma como nos deixou marcados, o que restou na lembrança, e até o que acrescentamos ao contá-lo, como o faço ao narrar esta história, muitos anos depois de acontecida…
Era uma daquelas horrendas noites friorentas da minha pequena cidade. O frio reinava absoluto num cenário brumoso e desolador, açulado pelo vento e pela chuva fina que caía sem descanso. Apesar do barulho monocórdio do chuvisco ininterrupto, o silêncio nas ruas era tão denso que parecia poder ser rompido como uma vidraça estilhaçada pela bola de uma criança.
Nenhuma viva alma pelas calçadas, um perfeito retrato de desolação. As fracas e poucas luzes dos postes apenas clareavam de espaço em espaço a negritude absoluta que se derramava sobre a praça. No interior das casas, no entanto, estavam os moradores entocados, alguns ao redor do rádio, muitos em volta da mesa a conversar sobre os rigores invernais e as doenças que acometiam as crianças e os velhos, pormenores da vida dos vizinhos, a maioria já enrolados em cobertores, todos recolhidos em seus casulos.
Na casa da família Abreu, entretanto, o clima era de tensão e muita inquietude, pelo menos para o dono da casa, o Seu Fernando, que apesar de morto de cansado depois de um dia inteiro a atender clientes em sua casa comercial, não podia deixar-se cair na cama e dormir como qualquer cristão. Observava preocupado a atitude de Dona Carmita, sua esposa, numa trabalheira incessante àquela hora da noite, a fim de arrumar o guarda
roupa do quarto de hóspedes, seis portas de armário apinhadas de peças de cama e mesa, a separar e arrumá-las por cores, tamanho, utilidade. Diante do comportamento da mulher, pensamentos sombrios alojavam-se em sua cabeça e tremia só em pensar no que poderia advir daquela obsessão por arrumação e limpeza. Há muito buscava compreender o que a impulsionava a arrumar móveis, objetos, utensílios de cozinha, roupas, detalhadamente, para em outra hora, sem razão aparente, removê-los de onde estavam, num fazer e desfazer que lhe tomavam cada vez mais o dia, cujas vinte e quatro horas não bastavam para tanta atividade.
Na imponente casa paroquial vizinha à igreja, o Padre João também não dormia. De temperamento introspectivo, tentava fixar a atenção na leitura, o frio a lhe entrar pelos ossos, as sensações do dia a tumultuar-he o pensamento que se voltava todo o tempo para Cândida. Ah, menina linda… prendada… de fina família, sempre pela sacristia a cuidar das peças de linho e dos paramentos usados nas celebrações, enfeitados com as mais finas rendas existentes por aquelas bandas. O padre só enxergava ternura nos cuidados da mocinha com os pobres, pequeninos ou idosos, dar-lhes de comer ou arranjar um livrinho para contar uma história. Ah! se o Senhor consentisse … Estava só e sentia uma estranha saudade, aliada à vontade de uma cama quente, com Cândida a providenciar o conforto preciso, e depois deitada ao seu lado, toda aquela beleza jovem e suave a se desmanchar em carinhos. Pensou. há quem durma com um barulho desses? Levantou-se, tomou um copo de ponche de maracujá deixado pela empregada sobre a mesa, desligou-se de suas divagações e postou-se a olhar a rua pelo vidro da janela.
Naquela casa, como no resto da cidade, estavam as crianças na cama às nove e meia da noite. Eram seis. Quatro pestinhas irrequietas pela impossibilidade de sair para brincar, danadas com o mau tempo que impedia o exercício de estar no paraíso, na rua onde não passavam carros, não existiam ladrões ou tarados, a rua que era toda deles, verdadeiras quadras de bola do reino, de pular corda, jogar academia, brincar de roda, correr de bicicleta. Dois outros eram bebês. o recém-nascido no quarto da mãe e o maiorzinho, no outro quarto.
Naquela noite, Ela acordou com o barulho de Babá acalmando o pequeno. Deu graças por não estar sozinha e aterrorizada no escuro. Sentou-se na cama e ficou a observá-la, na penumbra do quebra-luz.
-Lila, já está acordada de novo? Vá dormir menina, senão eu vou chamar sua mãe.
Passado algum tempo, os sussurros e movimentos se foram e juntos levaram o sono de Lula. Ficou imóvel por um tempo, a conferir dentro do breu o tamanho do cômodo enorme, de paredes muito altas e portas tanto quanto. Sabia no escuro do quarto o relevo das camas das duas irmãs, as mesas de cabeceira, o guarda-roupa e a cômoda, a cama de Babá, o berço e como sempre acontecia, sentiu arrepios de medo das trovoadas e dos relâmpagos que fustigavam a quietude da pacata cidade. Nessas ocasiões, sempre lhe voltava à memória outras madrugadas povoadas de rumores e de andares apressados e cuidadosos da mãe, de Babá e da avó com o irmão mais velho, os sussurros de preocupação e de carinho para com o menino raquítico asmático, os cheiros inesquecíveis do emplastro que aplicavam no seu peito magrinho e nas costas, e o cheiro de alfazema queimada no fogareiro aceso durante toda a noite para aquecer as enormes toalhas com as quais o cobriam, já que não podia usar cobertores ou pijamas de lã. Teriam sido aqueles serões os primórdios da insônia da menina?
Mas naquela noite, o sono não conseguia lhe dominar. Contou carneiros, fez provas dos nove, relembrou aulas de piano tocando em um teclado imaginário e daí começou a rir baixinho, pois naquela tarde a mãe a havia flagrado junto com os irmãos, enquanto tomavam sorvete proibido no italiano. Passou até a hora do jantar na maior ansiedade esperando a hora de apanhar, até que alguém não se conteve e perguntou:
– Mamãe, a senhora não vai nos dar uma surra por causa do sorvete?
E ela, entre surpresa e com um sorriso gostoso:
– É mesmo, esqueci!.
Ainda em busca do sono, pensou na boneca que ganhara no Natal. Movendo-se no escuro foi pegá-la. Linda, loura, vestida com uma jardineira de listinhas cor de rosa e enfeitada de galões e pequenos botões, um tesouro. Na cama, o nariz gelado, os pés teimavam em não esquentar debaixo do cobertor de lã.
Foi aí que ouviu vagamente um rumor vindo da rua. Parou de respirar um pouco, a fim de escutar melhor e percebeu uma voz de mulher, mas não dava para distinguir o que dizia. Parecia que cantava. Pulou da cama e foi olhar pela fresta da janela, mas o chão de mosaicos estava um gelo. Voltou à cama, calçou as sandálias, enrolou-se no cobertor e foi matar a curiosidade. Tomou lugar num cantinho da janela de onde via a praça, na verdade uma estreita faixa de visão externa já sua conhecida de outras noites. Com o passar do tempo, foi ouvindo mais claramente a voz meiga, triste, afinada e suave que cantava uma música conhecida. Em meio à neblina e no vazio da praça, completamente só, uma mulher cantava. Aguçou a atenção a fim de ouvir o que dizia a música e apenas reteve algumas palavras. Sei que te vais, porque já não me queres… mas pensa bem porque me matarás…
Àquela altura estava ansiosa para ver o rosto da desconhecida, e se perguntava por que alguém, ainda por cima mulher, estaria àquela hora a perambular pela rua, cantando e tomando a maior chuva. Procurou posição que lhe permitisse ver mais alguma coisa, não havia cadeira no quarto, que lhe tornasse possível olhar através dos vidros da janela. Pouco a pouco, conseguiu ver algum detalhe. Ela passava pelo seu restrito campo de vi
são, como se dançasse. Só podia enxergá-la do pescoço para baixo. O rosto, não conseguia vê-lo. Usava um vestido. Um lindo e delicado vestido de renda transparente molhado que colava como uma segunda pele bordada e recobria com suavidade os braços e o torso da mulher. Parecia ser magra e alta. De seios grandes e bem aponta
dos. Sob a luz do poste, podia ver que a blusa do vestido fechava a renda com muitos botõezinhos, como um robe da sua mãe. Tinha uma saia rodada, de tecido fino e apliques de rendas, parecia uma princesa da chuva.
A mulher parou de cantar e falava palavras que ela não distinguia. Momentos depois, parecia que chorava. Um lamento triste, que às vezes sumia e ela nada mais ouvia. Então ela pegou um instrumento parecido com um pequeno violão, só que bojudo, gordinho, e começou a tocar uma música estranha. Agora estava de costas para a sua casa, como se dirigisse os seus lamentos e cantares para alguém do outro lado da rua. Pensou então consigo mesma que aquela mulher era louca. Só podia sê-lo, estar na rua àquela hora, na chuva e no frio, cantando e tocando um violãozinho daqueles? Será que era noite de lua? Ouvia falar que em noites de lua cheia, os doidos ficam mais doidos ainda.
Algum tempo depois, fez-se novamente o silêncio e pensou que o esforço e o inusitado das cenas na praça deixaram-na cansada, pois adormeceu, embora impressionada com a figura estranhamente linda que vira naquela noite.
Acordou com a algazarra dos preparativos para a escola. Meias trocadas, laços de cabelo faltando os pares e o pior. não iam tomar leite no curral , o que deu início a uma birra coletiva.
– Por que não vamos? Não está mais chovendo!
– Sua mãe disse que tem muita lama no curral e o leite é o de casa mesmo. À tarde, na hora da merenda, pode ser.
– Eu não quero deste leite!
– Também não vou usar galochas hoje!
– Eu vou dar uma maçada bem grande!. Nem que fique de castigo na escola, tão cedo…
Em meio às reclamações e ameaças, Babá tentava mostrar que havia mais alguém na cozinha. Tomaram um susto geral. A avó dava ordens para o café e o lanche da escola. Autoritária, com ela era obedecer ou obedecer.. e como criança não é besta coisa nenhuma, sentiram algo diferente no ar.
– Cadê mamãe?
– Foi para a feira.
– A esta hora? É muito cedo, vovó.
– Babá, cadê mamãe?
– Sua avó já não lhe disse?
Lila foi para o quintal das parreiras e ficou sentada a matutar sobre o que acontecia. Aquela hora da manhã a mãe fora de casa e vovó com eles?.
Na hora do almoço, nova decepção. a mãe ainda não havia voltado. Ora, porque demorava tanto? A avó continuava a fazer-lhes companhia.
O ambiente foi ficando difícil para os adultos. A mãe não chegava!, o bebê chorava, todos começaram a reclamar, quando chegou Balbina, uma negra amada por todos, babá de sua mãe e dos seus irmãos e que contava histórias como ninguém. Fez todos sentarem ao seu redor e contou, pela enésima vez, a história do negrinho adolescente que nunca conseguia dormir direito, pois uma alma muito anarquista balançava a rede onde ele dormia e ainda puxava-lhe os cabelos. Esta, era infalível. As crianças ficavam imóveis, morriam de medo, davam risadas e o tempo passava mais depressa.
Daí a pouco a avó chamou-a e disse:
– Lila, vá à casa de sua madrinha. Sua mãe está esperando esta encomenda
e lhe entregou um pacote. Vá num pé e volte no outro.
Correu em disparada, o coração quase a sair pela boca, pois pressentia haver alguma ligação entre o pacote e o clima de mistério que envolvia aquele estranho dia. Voltou a chover, molhou-se toda, caiu num buraco cheio de água e ainda esbarrou em uma velha que quase lhe fura o olho com a sombrinha quebrada, mas chegou são e salva.
A casa da madrinha era linda. Arrumada, limpa e repleta de enfeites sobre os móveis e mesas. Admirava muito os quadros pintados por ela, adolescente, aluna de um colégio de freiras. Encantavam-lhe os livros que ela guardava em uma estante com portas envidraçadas, cada um encapado com papel alaranjado e brilhante, numerado e com o título escrito à mão na lombada, alguns deles nunca esquecidos. A Toutinegra do moinho, O Solar da muralha de Pedra, O Castelo do homem sem alma, John, chauffer russo, A Cidadela, O Tronco do Ipê e muitos outros, que ficava a olhar com avidez…
Entregou o pacote à sua mãe. Ela mandou-a ir brincar no quintal, pois a prima estava trancada no quarto e não queria ver ninguém. Bateu-lhe a porta na cara, quando a chamou. Não sabia o que fazer. Os adultos, em silêncio ou aos cochichos pelos cantos, trocavam olhares conhecidos, daqueles de esconder as coisas de crianças. Por fim, deram-lhe lanche e a esqueceram. Pegou um jogo de quebra-cabeça e, sentada em um canto, esqueceu tudo ao redor. Daí a pouco, duas mulheres conversavam em voz baixa.
O padre João ouviu a cantoria na praça e foi lá convencê-la a voltar para casa. Ela agarrou-lhe o colarinho, gritou que não acreditava em Deus, que sabia as safadezas que se passavam na sacristia da igreja, que era uma infeliz e que ele tomasse cuidado com a história de Cândida, pois o inferno era mais perto do que pensava…
Seu Fernando saiu desembestado pela rua quando acordou de madrugada e viu as portas da casa abertas, e junto com o cunhado conseguiu trazê-a para casa.
– Ainda bem que arranjaram o carro de seu Orlando e vão levá-la para um hospital na capital.
Por uns momentos ficou abestalhada a olhar para o nada. Não compreendia o que acontecia, a não ser que estava muito triste. A mãe veio até ela e levou-a nos braços para o quarto dos tios. Deitou-a na imensa cama preta e prometeu que iriam logo para casa. Puxou a porta do quarto e saiu. A cama era cheirosa e confortável. De repente, ao olhar para a porta encostada, ela viu, pendurado num cabide, o vestido amarrotado e molhado da noite passada, e, em cima do guarda-oupa, o instrumento parecido com um pequeno violão, que mais tarde veio a saber ser um bandolim.
Sei o que estou fazendo aqui. conto os instantes
que pingam e são grossos de sangue.
Agua Viva.
Passado a limpo.
Eugênia Menezes.
Nao pensei que fosse tão longe, disse a passageira Jaciara ao taxista. Estou ansiosa.
– Senhor, por favor, pode me ajudar a encontrar este endereço?
– É do outro lado, junto do bar de pedra na parede.
Por mais que eu tentasse me identificar, ficou claro para mim a relutância da pessoa que me atendeu em deixar-me entrar, fato testemunhado pelos frequentadores do bar e pela vizinha que aguava o jardim.
Procurei ser firme, enfática no meu desejo. Afinal, eu não viria de tão longe para voltar sem uma resolução. Eu saíra dali, minha terra natal, há dez anos, em circunstâncias dramáticas. Perdera o contato com todos após a morte de meus pais num acidente de trem.
Recentemente, numa peregrinação ao santuário de N.S. Aparecida, encontrei meu conterrâneo Mauro Shampoo, o cabeleireiro, que pedia auxílio à Virgem para ser eleito vereador. Ele de pronto me reconheceu, dificuldade que eu tive, uma vez que Mauro engordou, perdeu os cabelos e a inocência depois que entrou na politica. Abandonou a profissão, mas não a fofoca e a maledicência.
Ele me pôs a par de histórias atuais e antigas que rolam por nossa cidade. Um desses assuntos diz respeito à minha pessoa, o que muito me chocou. Venho aqui assenhorar
me dos detalhes para o início de providências. avalio se contrato um advogado local ou se telefono para meu filho trazer um do Recife.
Segundo Mário, a moradora da casa onde moravam meus pais espalhou pela cidade que eu engabelei meus irmãos. Passei a mão nos pertences da herança e fugi como uma culpada, o que já é prova de valor contra mim. Apesar de antigos, só agora vim saber desses acontecidos, mas mesmo assim quero que a verdade apareça para todos.
Parti para tentar a vida em péssimas condições financeiras. Passei por grandes dificuldades para me firmar na vida. Lutei muito, mas hoje tenho casa, carro e o melhor, uma profissão. Atribuir o que consegui a um roubo é uma calúnia. Quero primeiro conversar com ela, depois procuro meus irmãos.
– Dona Jaciara, Dona Bernadete telefonou, disse que quer mesmo falar com a senhora. Espere que ela chega já.
Afinal, depois de tanto tempo, vou rever meus familiares, embora em clima de litígio. Mas tudo em breve ficará esclarecido. Quero limpar meu nome.
Dona Bernadete chegou, olhou para a sobrinha e, sem abençoá-la, foi dizendo:
– Veio buscar o resto, descarada? Não tem vergonha do que fez?
Jaciara, que trazia no pescoço o cordão de ouro de sua mãe e no pulso o rolex do pai, ensaiara muito esse encontro no qual esperava levar a melhor. Respondeu:
– Calma, tia, vim visitar os parentes, coisas do coração… Suas mãos tremiam.
Dona Bernadete não amansou um só instante.
– Você não tem coração. Seu coração é sujo como o cão. Vá embora que por enquanto você só está de ladra. Pior se eu disser a todos que você empurrou seus pais para a linha do trem. Pensa que não sei?
Fez-se um grande silêncio. A tia gritou:
– Assassina!
Jaciara desmaiou, revirou os olhos, deu uns estertores esquisitos. Seu nome cada dia mais difícil de limpar.
Luzes da tarde.
Passou pelo menos uma hora sentado no banco da praça, diante do Palácio da Justiça. Certamente o tempo de espera fora maior do que a cronologia dada pelos ponteiros do relógio. Não olhava os jardins, os olhos fixos na estátua da mulher com venda nos olhos e balança nos ombros. Ela não vem! Melhor ir ao cinema, aliviar a cabeça.
A sala já estava escura, mas ainda passavam os trailers. Queria esquecer o que não aconteceu. Aos poucos, os pontos luminosos da tela o capturaram. O filme começou. As cores e imagens que delineavam uma história de amor o envolveram. Procurou acomodar-se. Freqüentava o cinema desde menino.
Não conseguia relaxar. A tensão se espalhara no corpo. Num dado momento da pelicula, a cena se passava em um campo verdejante, Annie Girardot recostada no tronco de uma árvore alta, abre os braços em direção ao amante. Esfregou os olhos com as mãos fechadas, tentando não ver, mas também para enxugar as lágrimas. O ciumento amante avança e enfia a faca no tórax da bela mulher. Surpreso, viu quando ela o olha com alivio e o abraça fortemente. Respirou fundo, procurou desfazer o nó da garganta pigarreando três vezes. Não pôde negar a si mesmo o prazer de ver a lâmina traspassando o corpo da mulher e ela o enlaçando.Quis afastar os pensamentos, recordou à praça, o banco vazio, aquela mulher com venda nos olhos e os pratos da balança desequilibrados. Teve medo.
Na última cena do filme, o assassino por trás das grades, com cara pesarosa, acenando com a mão esquerda e com a direita afagando o próprio pescoço. Antes que o The End aparecesse já estava na porta de saída.
Agora aquela tarde ficara sem esperança. Perambulava indiferente pelas ruas. Passou na praça mais uma vez, repetindo o trajeto quase sem notar. O nó da garganta o sufocava. Pensou. vou para casa descansar.
O apartamento era velho, dava para o poente e as luzes fortes entravam pela janela iluminando a arrumação que havia feito de manhã. Ficou na sala, defronte à porta. Sentou-se na cadeira de balanço, acendeu um cigarro e as tragadas eram tão grandes que a fumaça fazia a garganta arder, e, expelida no ambiente, parecia uma nuvem cinzenta. Sentiu sede, um bom drinque ia bem naquela hora. Nem escolheu a bebida, como costumava fazer. Pegou a garrafa de vodka e encheu metade de um copo largo e baixo. A lassidão o deixara sentado bebendo sem gelo. Na sala não havia música. Os discos já estavam escolhidos desde cedo, mas não queria mais ouvi-los.
Caminhou até a cozinha. Sobre a mesa pronta, forrada com a toalha vermelha, estavam o bolo, a cesta de pães e a serra, a tábua de queijos, a garrafa de vinho tinto de que ela gostava. Pegou a serra e voltou à sala. O coração batia apressado. As lágrimas corriam agora duas a duas, quatro a quatro, fazendo correntezas nas suas faces. A garganta estreitava cada vez mais, a vodka não desfizera o nó, pelo contrário, o sufoco aumentara. Para completar, o braço esquerdo ficou pesado e as costas doíam. Perdeu a noção do tempo. Mordeu os lábios até sentir o gosto de sangue. A lâmina fria, roçando lentamente no pescoço, fazia um carinho estranho. As imagens invadiram sua cabeça zonza. sentado ali no banco da praça, vendo no alto do palácio a loura sor-ridente. Tomado de raiva fechou e abriu as mãos com energia. Suspirou fundo e bebeu sofregamente vários goles seguidos até engasgar. Curvado, apoiou a cabeça sobre o braço e soltou o pranto.
Forte pancada na porta e uma voz distante o levou a pular da cadeira. Ligeiro, torceu a maçaneta e a puxou com força. Então ela, esplendorosa, com os grandes olhos pretos, aí estava! Entrou, mas não olhou para ele. Apressada, foi para o quarto. Ele a seguiu extasiado e a contemplou. estava linda, de costas para a janela, de onde vinham as últimas luzes coloridas, compondo a luminosa moldura de sua figura.
A passos largos, o amante aproximou-se. Excitado, olhos injetados, mãos para trás, alisando a lâmina.
Serena, ela encostou-se na janela e falou devagar. vou embora, tudo acabou, vim só pegar minhas coisas. Ainda sem olhar para ele, levantou a cabeça procurando o armário. Ergueu os braços lentamente, parecendo uma estátua alada. Ele avançou rápido e, frente a frente, desferiu o golpe certeiro no peito da amada.
Ela, desfalecendo ensangüentada, inclinou-se para abraçá-lo.
As luzes da tarde apagaram-se.
O resgate.
Glauce Chagas.
Em cidade pequena, a novidade se cata e se acha. De gente também pequena, a mentalidade acompanha o tamanho. Pessoal maldoso não falta; pouco a fazer, a vida alheia preenche o vazio. Depois da construção da rodovia, a esperança de progresso foi esgarçando-se, até sumir na poeira dos poucos e velhos automóveis a transitarem. Um atalho, em caso de precisão.
Do meu canto, bem no centro, vejo tudo, principalmente quando a freguesia desaparece. Em tempo de crise, que parece eterno, o dinheiro é curto para se gastar com brebotes de bar. Os teimosos aparecem para uma pinga com limão ou, se der, com caju e sal. Isso não chega para alimentar uma família, mesmo de pouca gente. Mas é a herança que me deixou pai e que não pude recusar. Não foi só essa. As meninas, as duas, minhas meio
irmãs, gêmeas no nascimento e na ausência de vida. Tem-se que viver por elas um duplo trabalho. A mãe adivinhou a jornada que teria de enfrentar e foi embora. Se eu fosse cabeleireiro, como esse daí de junto, ganharia mais dinheiro, todo mundo tem que cortar cabelo. Só não queria ter aquela pose delicada.
O que mais aparece são fregueses homens e o povo a meter o pau, em sua duvidosa macheza. Ah, isso não!… As mulheres sempre arranjam quem lhes corte os cabe
los, os maridos não as deixam frequentar o cabeleireiro, ambiente que consideram promíscuo. E eu aqui, nessa vida… Parei os estudos para estar nessa…
A igreja, a praça, os casais no chamego ao cair da tarde e todas as casas de um lado e de outro, porta e janela, um rosário, caindo rua abaixo. Aqui bem nas minhas ventas, mora um casal que não vive muito bem, dizem. Eu mesmo já testemunhei sons de brigas vindos de lá, mesmo a portas fechadas. A mulher, uma morena carnuda, tipo brejeiro, meio alvoroçada, seios à mostra, faces em carmim. Sempre pendurada à janela. Se quisesse, já estaria a me esquentar. O marido, tipo bestão, trabalhando até se esborrachar numa oficina de carros, lá em outra cidade. Cabeça baixa, talvez de vergonha, bicho frouxo, passa sempre à mesma hora, de ida e de vinda.. Há muitas estórias em torno dele. Dizem que teve duas mães, uma de verdade e outra de criação.
Estrada poeirenta. Três dias de peregrinação. Já andei de tudo que é transporte
trem, ônibus e até boléia de caminhão. Finalmente cheguei ao lugar onde já vivi tempos atrás. Hoje sou apenas uma desconhecida. Curvas, da estrada e da vida. De preto estou
– luto eterno – pela dor, um oco só.
A sombrinha esburacada deixava o sol atrevido tocar-lhe o rosto, desenhando formas diversas. Uma obra de artista. A luz lhe cegava. O suor e o choro ensopavam-lhe sem cerimônia o rosto. Lágrimas de anos.
Já é a segunda vez que venho aqui em cumprimento de uma missão que deverá acontecer antes de ir-me dessa pra outra, morrer em paz e livrar-me desse peso na consciência. As casas estão cada vez mais velhas, descascadas, mal se veem suas cores, antes tão vivas. Não consegui limpar minha honra nem ter o perdão que procurava. Tomam-me como desertora, cada um sabe o seu. Da outra vez, bateram
me a porta na cara, não deixaram explicar nada, não quiseram saber nem quem era, só desconfiança. Na exaustão em que estou, vou é sentar-me nessa calçada mesmo quente. Pretendo resolver tudo dessa vez, pois a ida tá perto, pela fraqueza que sinto. Se existir o mal do outro lado é lá por certo que vou ficar, fogo queimando, lama a encobrir
me o ex-corpo, uma matéria qualquer em que irei me transformar. Já está ficando escuro, sol laranja se indo, bela paisagem pra um coração triste de mãe. Parece que estou ouvindo uma voz. Ou será o cansaço? O fruto do amor entregue a pessoas estranhas. Estranha fiquei eu, perambulando na vida, sem alma.
Ainda está aí essa mulher? Notei-a quando ia chegando, primeiro um ponto preto, depois a imagem clareou e é da velha que já esteve aqui outra vez. Não gosto de me meter, mas preciso ajudá-la. Repartir o que já é pouco.
– Ei! Quer se achegar aqui? – Deve está cochilando na calçada, coitada… Não responde. Agora, mexe-se, está olhando para os lados, vira-se pra mim. Lá vem, trôpega.
– O senhor me dá notícia do povo daí? Tenho que falar com eles. Coisa de vida ou de morte.
– O povo daí parece que não vai chegar. Entre por aqui, pra gente conversar, enquanto côo o café e torro um pão. O alimento que deveria ser nosso, segundo a reza, mas parece que sobra para poucos. Tá tudo errado nesse mundo. Aqui estou a mando do destino. Já estava adiantado nos estudos e aconteceu a ida de meu pai, tive que vir, tomar conta desse boteco e olhar minhas irmãs. E a senhora?
– Sim, meu filho, aceito o repouso oferecido. Venho numa missão também. Fui expulsa de meu mundo e obrigada a me desfazer do bem mais precioso. Cabeça-de-vento fui, agora padeço o mau caminho andado. Mas vou ver se a situação pode mudar. Confio numa força superior que me há de ajudar. As agruras derramadas por mim no mundo serão todas apanhadas, uma a uma no resgate da verdade milagreira.
Casa simples sinto aconchego sentimento diferente há tempo não experimentado me toma como já não sei como é o amor deve ser parecido com isso coração bate forte e a respiração antes quase parada volta a sugar com pressa o ar da vida e expulsar o ar da morte que já me estava tomando toda sou alimentada do pão e do café lembrei
me da missa quando pequena tomai e bebei esse é o Meu corpo… tem esse sentido pra mim pobreza com humildade mas uma superioridade humana destroçando a miséria e o sofrimento ali está o colchão ele me sorri um sorriso largo espontâneo de carinho nunca mais tinha visto isso tão perto de mim oferece-me lençóis brancos puídos limpos que me darão o livramento dos pecados olho o quarto das irmãs as duas encolhidas como uns bichinhos medrosos rostos belos e cabelos loiros deitei-me num colchão velho na sala perto de um móvel espécie de baú em cima um velho álbum a curiosidade não me deixou uma coisa me empurrava a ele fotografias amarelecidas desbotadas quase invisíveis suas personagens olho olho sem parar pra sentir-me num mundo da busca pela verdade vi uma por uma família à frente de uma igreja o padre e os noivos crianças pequenas loirinhas senhores de chapéus a cavalo algumas senhoras de casacos meninos brincando em praças quase virando a última página o rapaz já dormindo uma imagem familiar a mim o coração saiu pela boca revivi o amor perdido uma fisionomia afável um riso franco quase a falar comigo ouvi barulho no quarto do rapaz guardei o quase roubo e perguntou
me como estava e disse que estava feliz não contive a ânsia ele pensou-me doente por que estava assim e chorando mostrei-lhe a figura no álbum e ele disse que era seu pai que se fora de desgosto casara sem amor porque o verdadeiro tinha sumido com um filho que era seu e que conseguiu resgatar e é esse que lhe fala aqui então puxei
o com carinho rolamos os dois no velho colchão o novo e o velho e eu antes visita passei a ser mãe e contei-lhe toda a verdade muito choro de alegria e o grande perdão tão esperado… depois não sabia mais nada uma retreta na praça soldadinhos alinhados de branco tocando músicas celestiais flores muitas flores de todas as cores e tamanhos e espécies celebrando a vida quase na hora de se ir um forte suspiro do velho coração e uma absoluta paz sem mácula … alivio e leveza num ar azul flutuando, flutuando… subindo…
Toda vida é uma missão secreta
A Paixão Segundo GH.
Obediência.
César Garcia.
Fiz a viagem em obediência a meu pai, com a finalidade de visitar uma tia, irmã dele. Só a conhecia por foto, feita quando era jovem. Parecia ter então uns trinta anos. Fui quase à força, porque não gosto de conversar com quem não tenho amizade. Ele insistiu, ou melhor, deu uma ordem. vá, estou mandando. Achava muito importante que ela me visse já grande, homem feito, como ele dizia, mas eu nem havia completado os dezoito anos que agora tenho.
Após quatro horas de viagem, na rodoviária, tomei um táxi e disse o endereço. rua tal, número tal. Nunca tinha andado ali. Minha intenção era voltar logo após a visita, pois não sabia de nada que pudesse me interessar nem conhecia ninguém. Quando bati na porta, quem me atendeu foi uma empregada muito gorda, baixa e com olhos de chinesa. Perguntei. é aqui que mora dona Fulana de Tal? É – respondeu. Sou sobrinho dela, vim fazer-lhe uma visita. A mulher deu as costas, entrou, e eu fiquei esperando. Achei estranha a demora porque meu pai tinha avisado que eu ia, mas não havia o que fazer. Finalmente, voltou, abriu a porta e pediu que me sentasse num sofá daqueles de madeira trabalhada e as-sento de palhinha, nada confortável. Olhei os retratos nas paredes. O maior tinha uma moldura nem quadrada nem redonda com um casal. Devia ser minha tia com o marido já falecido há muito tempo. Outra foto que me chamou a atenção foi a de um rapaz parecido comigo, mas muito antiga. Na outra parede, um relógio numa caixa de madeira, com um pêndulo balançando. A chinesa voltou com um cafezinho e um pequeno prato com biscoitos de goma deliciosos. Comi todos.
Já devia ter passado um quarto de hora e eu estava com vontade de ir ao banheiro. Minha tia entrou na sala numa cadeira de rodas. Disse bom dia, meu filho, como está grande e bonito! A voz era fraca e rouca. Levantei-me e estendi-lhe a mão. Ela me puxou para beijar e eu também dei-lhe um beijo, sem encostar o rosto no dela. Senti cheiro de uma colônia que não me era estranha. Perguntou. como vai seu pai? Vai bem, respondi. E sua mãe, está com saúde? Andou gripada, mas já está boa. Continuou. tenho muita saudade do tempo em que mo-rei com eles, você nem era nascido. Quando casei, vim para cá e quase nunca pude vê-los e agora é mais difícil, na situação em que estou. Esta cadeira só serve para andar dentro de casa. Não tenho coragem nem de ir à calçada.
Tive que dar notícia de cada parente. Às vezes não tinha o que dizer e inventava um pouco. Fazia calor e a vontade de ir ao banheiro aumentava. Quando não aguentei mais, perguntei. posso ir ao banheiro? Vá, meu filho, é depois da cozinha.
Ao voltar à sala, minha tia estava com a cabeça baixa, com o queixo quase encostado no peito. Achei que dormia, e sentei-me no sofá. A empregada encontrava-se na cozinha, cuidando do almoço. Era até bom que minha tia dormisse porque assim eu não precisava falar. Depois de vinte minutos, comecei a perder a paciência. Levantei-me, fui à janela, olhar cada pessoa que passava. Algumas me deram bom-dia e eu respondi. Deviam ser vizinhas. Voltei ao sofá e minha tia continuava na mesma posição. Só pensava em sair, pegar o ônibus e voltar para casa. Se saísse sem falar com ninguém meu pai ia saber e dizer que eu não tinha jeito, era um boboca, um matuto. Comecei a tossir, peguei meu lenço e assoei o nariz fazendo o maior barulho que podia. Nada. Fui à cozinha, andando lentamente, observando os móveis. A chinesa me viu e fez um ar de riso. estou preparando uma galinha para o senhor comer; a patroa só toma um caldinho. Aproveitei. ela está dormindo, não vai acordá-la? É assim mesmo, ela dorme quase o dia todo – respondeu sem olhar. Preciso ir embora, pegar o ônibus. Dessa vez a mulher virou-se e disse abrindo bem os olhos. mas o senhorzinho não vai sair daqui sem comer esta galinha, e fiz doce de coco para a sobremesa. Desculpe perguntar, mas o senhor já está noivo? Não – respondi. Ando preocupada com a saúde da patroa. Quando ela morrer, não sei o que será da minha vida. Meu sonho é continuar com a sua família, me acostumei, esse tempo todo, já se vão quinze anos. O almoço está pronto, só falta pôr a mesa. Vou ver se a patroazinha acordou.
Acompanhei a cozinheira. Tocou no ombro da minha tia e disse. patroa, acorde, venha tomar seu caldo, e começou a empurrar a cadeira de rodas. Teve início minha aflição. Percebi que minha tia estava imóvel, na mesma posição, e mais pálida do que antes. Não dei uma palavra até chegar à mesa de refeições. A emprega-da insistiu. patroa, acorde. Eu disse quase sem querer. ela morreu. A chinesa arregalou os olhos, pôs as mãos no rosto da minha tia e exclamou. valei-me Jesus amado! Era mais ou menos meio-dia.
Liguei para meu pai e ele não queria acreditar. Você está maluco? – falava assim. Só quando eu afirmei que o enterro seria no outro dia é que ele me levou a sério. Disse que ia para a rodoviária com minha mãe. Lá para as quatro horas da tarde, morto de fome, eu já tinha chamado um padre, e encomendado um caixão e o enterro. A casa estava cheia de gente, da sala até a cozinha. Quando esse povo soube que eu era sobrinho da defunta, começaram os abraços e pêsames e eu só sabia dizer obrigado, obrigado. A fome, o calor e o cheiro de vela me deixavam atordoado, mais que a morte da minha tia, confesso. Fui salvo pela chinesa que me levou ao seu quarto e me deu um prato cheio de galinha, arroz e feijão. Foi o melhor momento daquele dia.
Quando meus pais chegaram, alta noite, minha tia já estava no caixão, coberta de flores, em cima de uma espécie de mesa própria para enterro, com quatro velas grandes acesas em castiçais de um metro de altura. Minha mãe abraçou-me chorando e só aí eu senti vontade de chorar. Meu pai olhou a irmã por vários minutos, passou a mão na testa dela, mas não chorou. Fiquei com vergonha, porque devia estar com meu rosto mui-to vermelho. Ele então olhou para mim e disse. está vendo? Fiquei em silêncio, tentando entender se o que ele dizia significava que a culpa de tudo era minha. Não encontrava nenhuma razão para isso, mas às vezes eu não entendia o que ele dizia, sempre tinha sido assim. Virou-se outra vez para mim e falou. que visita, hem? Não dei um pio.
Entrava e saía gente a toda hora, e na sala de jantar as pessoas tomavam café e comiam bolacha sem parar. Também fiz isso para não dormir, mas não aguentei. Lá para as duas horas dormi sentado no chão, encostado na parede. Fui despertado por meu pai quando o dia já clareava. acorda, menino; veio fazer uma visita ou veio dormir? Levantei-me com dificuldade e dor no corpo todo.
Foi o primeiro enterro que vi. Notei que todo mundo queria ver o rosto da morta e algumas velhas comentavam. parece até que está dormindo. Queriam saber de que minha tia tinha morrido. Como eu não sabia responder, ficava calado e elas saíam resmungando. Cantaram muitas vezes segura na mão de Deus e vai. Pouco antes da hora do enterro chegou meu primo, filho dela, que há muito tempo eu não via. Brincávamos juntos quando meninos. Chegou tarde porque vinha de São Paulo e ficou chorando junto ao caixão, dizendo frases que não consegui entender.
Finalmente, saiu o cortejo, como se diz. Apenas três carros lotados e o resto a pé, o cemitério não era longe. Na capela, o padre rezou muitas orações e então caixão foi levado ao túmulo. O padre rezou outra vez as velhas cantaram. Minha mãe me abraçou o tempo inteiro, enquanto os coveiros enchiam a cova de terra e eu fazia força para não chorar. Minha camisa estava colada nas costas de tanto suor. Tudo terminado, voltamos a pé, lentamente. De vez em quando meu pai dizia coitada de minha irmã. Na terceira vez, mamãe disse. a essa hora ela está em lugar melhor do que nós. Perguntei baixinho. primeiro não vai para o purgatório? Meu pai me fuzilou com o olhar. Mais uma vez não entendi bem o que ele queria dizer, mas boa coisa não era.
Dormimos na casa da minha tia. Eu e meu primo, em redes armadas no corredor. Meus pais, no quarto da morta. Antes de cair no sono, tive que suportar duas horas de choro da empregada que repetia que será da minha vida. Só sossegou quando minha mãe garantiu que ela não seria abandonada.
Daquele dia em diante, tenho pensado muito na morte. Antes não havia percebido a facilidade com que uma pessoa morre. É até surpreendente que a população cresça tanto. De lá para cá, tenho saído muito pouco de casa. Quase só vou ao colégio. Mamãe diz que eu preciso reagir. Acho que com o tempo tudo vai passar e vou acabar me acostumando com a morte da qual ninguém escapa. Nem meu pai.
O caso da velhinha.
Eugênia Menezes.
Um dos desejos de minha infância era crescer.Crescer, ficar maior, namorar, votar,dirigir. Hoje me pergunto por que só me liguei nos aspectos interessantes da vida adulta.Isto porque me vejo agora na condição de jurada, de interferir no destino de outra pessoa. Ela, com seu lado ora transparente, ora sombrio, gestos de generosidade e mesquinharia, eleitora do bem e do mal, semelhante a todos nós.
Trata-se de Dona Matilde, sessenta e seis anos, vinte de viuvez. Mulher honrada, do lar, boa mãe, religiosa, irrepreensível como esposa, hoje acusada de homicídio.E não é uma mera suposição. o falecido foi encontrado em seu quarto casto, agonizante, enquanto Dona Matilde, de olhos esbugalhados, segurava uma tesoura de costura na mão, ambas ensangüentadas.
Pelo que falam as lingual da cidade,o falecido Edmilson,de vinte e três anos, vinha há algum tempo fazendo a corte a Dona Matilde, por mais estranho que isso possa parecer. A cidade, que apresentava equilibrio quantitativo entre rapazes e moças, enchera-se, nos últimos dias, de estudantes em férias, sobretudo moças.
Moças de mini-saia,decotes ousados, fio dental para seduzir. Era, portanto, considerado descabido o interesse de Edmilson por Dona Matilde, que, pelos padrões locais, tinha idade para ser sua avó.Esta, que a princípio se fizera de desentendida nas investidas de Ed – assim era chamado pelos íntimos – passou a interessar-se por ele, sobretudo por suas carícias ousadas. cangote, lambe-lambe, chupeta,leitinho, cosquinha no umbigo e adjacências. Era um ano de inverno depois de vinte de seca braba.
Até que chegou o dia fatídico, sobre o qual ouvirei o advogado de acusação e o de defesa, para poder posicionar-me com clareza e fazer justiça.
Advogado de acusação.
Sei que todos vão recorrer ao argumento da vida pregressa de Dona Matilde, mulher de boa família, de bons princípios e sem antecedentes criminais. No entanto, um fato por muitos testemunhado não pode ser negado. ela matou covardemente, depois de seduzi-lo com sua experiência,um pobre rapaz no vigor de sua juventude, por negro ciúme de estudantes em férias com as quais a vítima jogava voleibol, nadava na AABB e dançava nas festas do Creta, atividades que a ré não podia com ele compactuar, uma vez que, além dos joelhos doloridos,desejava manter em sigilo seu envolvimento com um inocente em sua tenra idade.
Quanto à acusação de que a vítima a destratou, humilhou-a e deixou-a acesa como uma lâmpada Aladim, não tem a menor procedência. Nascida e criada na cidade, a ré conhecia a fundo os apelidos, as lendas e o folclore locais. Já se habituara, depois da convivência com Ed, com as gírias, os modos descontraídos e a irreverência dos jovens. Nada do que Ed poderia dizer-lhe a chocaria. Até porque, ao lado de todo fervor erótico de seu relacionamento, havia uma grande cumplicidade entre eles.
Ela o matou passionalmente por ciúme, um ciúme senil, o que poderá repetir-se. A ré é um perigo para a sociedade. Peço para Dona Matilde a pena de 30 anos, em regime fechado.
Advogado de defesa.
Ainda bem que meu colega,advogado de acusação, reconheceu, ele próprio, os méritos indiscutíveis de minha cliente. Seduzida até as últimas conseqüências por um meliante motivado única e exclusivamente pela vasta herança deixada pelo marido da ré e sendo ela a única herdeira do espólio, já que Deus não lhe deu a graça suprema de ser mãe, e carente pela viuvez precoce, Dona Matilde entregou-se aos malfadados abraços e beijos do falecido.
Depois de percorridos os trâmites legais e ilegais da paixão, aproximava-se o momento do climax em que os amantes teriam sua primeira conjugação carnal. Ed abraçou-a e disse, satiricamente. Primeiro de abril, Primeiro de abril, repetiu, pensando assim faze-la morrer de desgosto.
A exposição do advogado de acusação torna-se hilária quando diz ter a vítima recordado um amigo de infância cujo apelido é Primeiro de Abril, por ter nascido nesta data. Mas então, por que sua invocação em momento tão precioso? Acaso pretendiam os dois, num pacto macabro, turrar a indefesa Dona Matilde? Um só companheiro foi nomeado, mas quantos seriam nesse bando macabro?
Minha cliente, esperta como ela só, entendeu a jogada e, em vez de morrer, ponto de chegada dos planos inconfessáveis do meliante, a título de dar-lhe uma advertência, encostou suavemente a ponta da tesoura de costura no seu amado ventre. Não se sabe se por vontade própria, movido pelo remorso, ou acidentalmente, a vítima adentrou pela ponta da tesoura, perfurando as vísceras, o fígado, o baço e a vesícula, ferimentos fatais. Peço absolvição total para a ré, uma vez que quase foi vítima de uma gang desnaturada.
Ouvidas atenciosamente as duas partes, reflito sobre as agruras da vida e decido. vou votar pela absolvição. Quem morreu, morreu, contanto que não seja eu.
Eu cá comigo mesma.
De novo acordo cedo sem precisão, não vou trabalhar e não tenho o que fazer. Colchão todo esburacado não tem costa que agüente, aquela telha um dia pode cair na minha cabeça, tudo quebrado,se chover mais a água cobre a cama. A mancha de mofo
na parede aumentou, está mudando de cor, de verde para a preta, o cheiro é o mesmo. Melhor fazer faxina a semana toda do que ficar nesse quarto acordada enchendo a
cabeça de minhocas, vou fazer café, será que ainda tem um pedaço de pão de ontem? Café ralo e pão duro dão azia pra danado. Quando olho para a cama lembro de
João, o tremido do meu corpo não me deixa. Que ele fedia, fedia, mas eu lhe dei um banho caprichado, passei sabão de coco três vezes, cortei seus cabelos, suas unhas,
e limpo na cama ele esperou por mim. A vontade não dava pra controlar, a pegação foi tão boa que fiquei toda molhada, justiça se faça, o chifrudo tava com um tesão da
porra e entrou dentro de mim, comecei a ficar doidinha, mas ele não parava e parecia que me queria comer toda.Foi gozo de todo jeito e havia hora que eu achava que ia me acabar. Quanto tempo foi que durou? Nem sei, mas pra que saber? Acordei e não ouvi o ronco dele, senti uma coisa ruim, parecia sei lá o quê! Fui pegando nele, frio, de olhos arregalados. Dei um pulo da cama, gritei por socorro e sacolejei o corpo que não se mexia. Bateu as botas o coitado. Essas lembranças não me deixam em paz. Só me vem no pensamento coisa triste, a vontade de chorar faz visita o tempo todo, acabo sem prestar pra nada. De que foi que mãe morreu. Antes ela endoideceu, estranha, chorava, ria sem se saber o que era. Também, cinco filhos para terminar de criar, o abandono de pai, medo que sempre acompanhou ela e acabou acontecendo. Pai era safado deixou a gente por causa de uma putinha que tinha a idade de ser sua filha. Mas naquela casa, se casa não era, somente um quarto pra todo mundo, me lembro bem, quando eu tava ficando moça de noite o irmão mais velho vinha se esfregar nas minhas coxas, com a mão nos peitinhos que já apareciam. Eu fingia dormir, medrosa e achando bom, no outro dia ninguém dizia nada como se nada tivesse acontecido, mas eu queria de novo, queria… Cansada, o buraco no telhado, chove muito, se a telha cair vai ser do outro lado, tem feijão, charque e farinha vou botar fogo no fogareiro, a panela onde será que está. De tarde vou pra praça ver Francisco do algodão. A cara dela ficava cada vez mais triste, não falava e choramingas me dava agonia. Ia para o hospital, voltava pior, depois não dizia mais uma palavra, o barulho que fazia com a boca era mais parecido com ruminação. Chegou o dia, fui chamada no hospital. Sua mãe não era só esquizofrênica também era doente grave do coração. Não entendi, mas também pra quê? Saí aperreada, telefonei pro irmão mais velho, os outros não sabia onde encontrar. Seu Alves o vizinho da frente apareceu e ajudou a fazer o enterro. Fazia tempo que ele nem na calçada botava o pé, deixei pra lá precisava de ajuda mesmo. Ele disse. quando quiser pode vir tomar banho de chuveiro. Fui, de toalha e sabonete cheiroso, quando fechei a torneira ele abriu a porta e me agarrou ainda molhada, de um puxão só já estendi as pernas abertas em cima da cama fazer o quê? Um dia havia de acontecer. Depois se repetiu mais umas cinco ou seis vezes e ai que gozo bom! Foi então que eu me dei conta de que estava grávida, disse a ele, sumiu e nunca mais nem olhar pra mim olhava. Contei a amiga da escola. Você está nervosa, sossegue. Vai ver que é engano. É coisa do psicológico. Dois dias depois, descobri que ela tinha razão, eu não estava grávida coisa nenhuma. Vejo o céu azul e o branco das nuvens, o buraco está maior. o pedacinho da nuvem é o algodão doce dele lá na praça. O feijão começou a cheirar, daqui a pouco mexo. Agora de olhos fechados penso no bem bom eu e ele, em baixo da árvore fazia de conta que dormia, o bonitão perguntava. Quer algodão, Dona Maria? Foi chegando mais perto, aí eu tacava um beijo na boca e o rapaz se destreinava. De noite ia à frente e ele atrás com a carrocinha até em casa.
Na terceira vez ele entrava no quarto e logo… Plaft, plaft, O que é isso? Merda! As telhas caíram em cima da panela de feijão.
Bilhete.
Glauce Chagas.
Em sua vida, tudo era de um só. Único paletó, já surrado, um par de sapatos esburacados com fundos de papelão, uma refeição por dia, era o que o dinheiro dava. Viúvo de meia-idade, de uma só mulher, não quis outra não, dizia que mulher dava muito trabalho e uma já era o bastante para o seu curto juízo. Concentrara-se tanto na pobre Luísa que o sufoco a fizera adoecer de uma doença mais ou menos besta, catapora, que chegou a lhe tirar a vida – que descanso! As bolhinhas foram-lhe tomando o corpo e terminaram por espalhar um mundo de bactérias…
Não havia recurso para tratamento, nem na cidade, nem no seu bolso raso. A vida sempre o conduzia maneiramente, pra lá e pra cá, as coisas aconteciam… Tudo era para amanhã. Se pior agora, assim não sentia.
Recordava os tempos de marinheiro, em embarcações para cima e para baixo, não precisava de nada, nem casa nem comida. Aficionado por uma mesa de pôquer, a toalha de feltro verde e aquelas fichinhas coloridas exerciam-lhe fascínio especial. Um cara austero em tudo, poucas palavras, quase nenhum amigo. No jogo, um perdedor, mas permanecia com ambição de ficar rico. Parco salário, ainda o perdia em apostas. Lá se iam o carro americano, dos bem grandes, cassinos, mulheres bonitas, viagens à Europa, palacetes luxuosos… Que diabo de sonho que só me importuna, de noite e de dia. Uma frustração só.
Casara insossamente com Luisa, fechado em se dar. Não tiveram filhos, sua esterilidade não o permitira. Afogava-se em bebidas fortes, copos e mais copos que deglutia a largos goles. A mulher tinha sido uma pessoa boa e econômica. Às escondidas, juntava as sobras de feira num porquinho de barro. Ele agora estava só, com a bebida, saúde abalada, sem Luisa. Arrumou os pertences dela, isso aos poucos, como em tudo na vida, já passado um ano de sua benfazeja morte. Poucos vestidos, alguns remendados, sandálias já velhas, lenços de cabeça, algumas peças íntimas, perfume de feira quase no fim, e outros objetos miúdos. Firmino fora buscar muita coisa debaixo da cama feita de tábuas grosseiras, colchão de palha, cheirando a mofo da eterna umidade da parede, encostada que era. Numa dessas procuras, lá no fim da cama, topou com um objeto duro. De um puxão conseguiu alcançá-lo, sem antes quebrá-lo ao meio. Era o porquinho. Moedas, algumas já sem valida-de, espalharam-se pelo chão sob a cama. Firmino, com um olhar cúpido, apanhou-as todas, misturadas à poeira. Soprou para limpar e experimentou novamente o desejo de ficar rico.
E se aquelas moedas fossem antigas ou fossem de ouro? Ou de prata? Quanto valeriam agora? Será que as grandes eram mais caras? Algumas nem reconhecia. Num pequeno intervalo dado à imaginação, correu a um ourives, que lhe desencorajou, de cara, explicando que algumas das moedas não estavam valendo mais. Juntou o resto, o montante liquido daquela ansiosa pesquisa. Procurou, com tristeza, ver quanto somavam. Pensou o que faria com aquilo, que era, assim mesmo, quase metade do seu mísero salário. Lembrou-se do jogo de pôquer. Havia um tipo de cassino meio decadente por perto. Tirou umas poucas moedas, passou na barraca, tomou umas boas pingas e seguiu para o cassino, um misto com quartos de cômodos. Jogou e jogou. Dessa vez, ganhou todas, mas não continuou o jogo. Algo lhe dizia que botasse o dinheiro noutra coisa, poderia lhe render mais.
Agora, com o acréscimo de quase metade do que tinha antes, voltou a pensar no seu investimento. A fim de uma luz, retornou à barraca para a costumeira pinga, novamente goles e goles a arder-lhe a garganta, cabeça meio tonta, pensamentos embrulhados, estômago também. Comeu umas tiras de fígado de alemão com farinha. Era o tempo para o pensamento. Chegaram dois caras conversando alto sobre uma tal loteria, com prêmio acumulado de três semanas.
– Vila de Maria! Fica a uns 40 quilômetros daqui. Ou se vai de burro ou no caminhão da feira…
Subiu com dificuldade na carroceria do caminhão, cheio de quinquilharias, mulheres, crianças, galos e galinhas, até um porco, vivo. Sol escaldante, fedentina insuportável. Como gente pobre fedia, tinha ainda mais raiva de sua condição.
Ajeitou-se como pôde e seguiu para lá, com o exato para o bilhete. Só um. Tirou os cinco números da placa embaçada e do ano de seu nascimento. Deu 5-2-6-4-1. De carona, na volta para o bar. Mais uma pinga, fiado, assim seria. Amanhã se tornaria milionário, com nome nobre.
– Agora, sim, terei o grande dia, me esconderei das pessoas que vão me pedir emprestado. Viajarei no primeiro avião, depois de um banho de loja.
Na barraca, uma velha televisão preto-e-branco, som quase ausente e imagem trêmula, dava o resultado do sorteio. O velho dono da barraca ajeitava a antena, até esmurrava o aparelho. Mãos não menos tremidas anotaram 5-2-6-4-1. Firmino era uma palidez só. Chegava a ver uns garranchos no balcão. Lembrava-se vagamente que vira aquelas mesmas figurinhas não fazia muito tempo. Forçou o mais que pôde a curta memória. Nada. Nova tentativa, via tudo trocado, a vista falhando. A cabeça rodava, pensava num transatlântico, o apito das chamadas do grande navio, pessoas no cais para os adeuses, cidades que visitaria, tapetes vermelhos, bela mulheres. A cada gole, mais sonhos.
Firmino, o corpo dele se contorcia, era o espasmo da riqueza. A forte pressão na cabeça, na certa de preocupação em usar bem o dinheiro que ganhara. A dor profunda no peito falava dos amores que iam lhe causar. O vômito, o expurgo daquela vida miserável. Fora aquele conteúdo avermelhado, uma vida novinha em folha. Mais uma pinga, outra, mais outra. Finalmente a queda – a morte daquela vida de miséria. O rico, milionário, Senhor Firmino, estava ali, a um passo do sonho real, despercebido por ele mesmo. O escuro da noite; agora, nem a luz da televisão do bar via mais.
A substituta.
Cidade do interior. O relógio da Matriz anuncia o meio dia. Com fome e vontade de chegar logo em casa, Luís e Mariana, recém saídos da escola, apressam o passo para vencer as três quadras que os separam do almoço.
No caminho ficavam a barbearia de Seu Julio, neste horário com poucos clientes, o salão de Dona Creusa, onde as manicures ora se abanavam ora folheavam revistas à espera das freguesas. Enquanto isso, qual marciana, debaixo do secador, tão ou mais quente do que o sol lá fora, D. Dulce sacrificava-se em nome da beleza.
Estavam chegando. O bar que ficava na esquina da última quadra, já àquela hora contava com alguns de seus freqüentadores mais assíduos.
Barulho de carro. Um táxi, que não era daquelas bandas, acaba de parar defronte à casa de Luís e Mariana. Dele desce uma mulher vestida de rosa choque dos pés à cabeça. No rosto, imensos óculos escuros escondiam-lhe as feições, enquanto um enorme lenço de seda envolvia displicentemente os seus cabelos. Quem será? Perguntaram-se os meninos e pensaram os demais personagens dessa trama, inclusive D. Laura, a vizinha, que sem parecer importar-se com o calor, regava lenta e cuidadosamente seu jardim com um aguador de onde há muito deixara de pingar água. Os motoristas de táxi que estavam a cochilar, pressentiram que, afinal, algo de novo estava prestes a acontecer naquele fim de mundo.
Em câmara lenta, a visitante apertou a campainha. A porta foi aberta por Seu Agenor, pai dos meninos. Glose. Ar de incredulidade no rosto dele.
– Quem é você?
Silêncio.
– Por que ela não veio?
Próximos ao portão, os merinos se entreolharam. Quem seria aquela mulher? Por que o pai perguntara aquilo?
Refeita da decepção que vira estampada na fisionomia do homem, a moça de rosa
choque responde baixinho.
– O senhor me desculpe. É que esperamos até agora e a Giselle não apareceu nem deu notícia. Ninguém conseguiu localizá-la. Parece que ela fugiu com o Pelé para as Bahamas. Foi amor à primeira vista. A imprensa toda está atrás e, hoje vence hoje o prazo para a filmagem desse comercial do novo shampoo, a Agência calculou que eu poderia me fazer passar por ela, desde que não mostrasse o rosto.
E, passando do dito ao ato, puxou sensualmente o lenço da cabeça, deixando à mostra uma luxuriante cascata de cabelos tingidos em três ou quatro tonalidades de louro, Seu rosto submergia sob o inesperado volume capilar.
Enquanto isso, do lado de fora, as pessoas acotovelavam-se sem entender nada do que acontecia. Entre eles, Luís e Mariana que desistiram de entrar em casa, cercados que estavam, de filmadoras, carros surgidos do nada e, dentro deles, homens que gritavam ordens. CORTA! AGORA! LUZES! AÇÃO! No começo todo mundo pensou tratar
se de alguma aventura amorosa de Seu Agenor, quem sabe uma filha desconhecida. Afinal, todo dia os jornais e a televisão relatam casos assim. Coitado de Seu Agenor. Tão comum. Tão boa gente. Fora escolhido como figurante por residir na casa mais antiga de Riacho Seco e, além disso possuir o físico adequado ao papel. Homem de meia idade, sertanejo, aposentado do Banco do Brasil e dos sonhos, careca em andamento, barriga respeitável, pés calçados de havaiana. Só para aparecer em cena, sem dar uma palavra e arregalar os olhos, embolsaria cinco mil reais.
Debaixo do maior sol, as conjecturas dos que estão por fora aumentam. Parecia coisa de traição. Coitado de Seu Agenor. Além de gostar da mulher, Dona Silvana, morre de medo dela. Ai dele se levantasse a vista para um rabo de saia. No mínimo perdia o direito de dormir no recém comprado SONOBOM.
No bar, para onde se dirigiram todos os taxistas, começaram as apostas. Apostar em que? Em como terminaria aquilo? Aquilo o que? Eis que surge à porta, vestida num robe cor de vinho e ar sonolento, Dona Silvana que, ao deparar-se com a loura de rosa choque, dispara.
– Posso saber o que é isso?
– Sou eu , madrinha. A Marineusa. Lembra de que fui há cinco anos para a capital? Pois é, agora faço propaganda de shampoo e quando me disseram que viria aqui para ser filmada, no lugar da Giselle, quis lhe fazer uma surpresa e ao padrinho, mas não deu certo. Além de não me reconhecer ele correu para dentro de casa e eu, que estava pronta para o meu primeiro comercial, perdi a chance de ficar conhecida.
Lá dentro, vermelho, molhado de suor, Seu Agenor era atendido pelo enfermeiro prático, Seu Segundo, que lhe aferia a pressão. Com a mesma rapidez com que viera, Marineusa despediu-se da madrinha, desejou melhoras ao padrinho e deixou beijos para as crianças.
Lá fora, tudo voltou ao que era, Ou quase. Até hoje, passados dois meses o episódio misterioso ainda é comentado. Ninguém descobriu quem era a loura nem o que fora fazer ali.
Eu, que vivo de lado, sou à esquerda de quem entra.
e estremece em mim o mundo.
Água Viva.
Alonso, jornalista.
César Garcia.
Em um lugar do Nordeste do Brasil, vivia, não faz muito tempo, Alonso, jornalista
– como ele próprio gostava de ressaltar – dono de uma coragem que o levava a encarar qualquer desafio. Gostava de fazer reportagens em lugares de difícil acesso, na
terra, no ar e na água. Solteiro, aos trinta e cinco anos, não tinha dificuldade nas conquistas amorosas, usando a conversa mais que sua aparência para a abordagem
de mulheres bonitas. Tido como grande namorador, na verdade nenhuma mulher parecia atender às suas expectativas. Os amigos, até com inveja, diziam.Desta vez ele não escapa, qualquer homem gostaria de estar no lugar dele. Mas os casos mais longos não duravam mais que seis meses. Afinal, que quer um homem dessa idade. uma seqüência interminável de casos ou encontrar aquela que lhe pareça a melhor de todas para ser a
mãe de seus filhos? Respondia: – Não sei, ainda não me vejo pai de família, muita gente se casa e logo se separa, causa mal-estar e, com meu estilo de vida, não posso ser bom marido nem bom pai; um dia estou sobrevoando plantações de maconha, outro mergulhando em mar distante ou andando a cavalo em veredas do Cerrado, no Brasil central, sei lá, nem eu mesmo sei o que procuro, concluída a reportagem, já estou pensando em outra .
Justamente o que ele via em suas aventuras era o assunto das conversas que encantavam as mulheres. Não se limitava a uma simples descrição, era antes uma interpretação do que ouvira das pessoas entrevistadas, buscando sempre compreender se o que elas diziam de suas vidas era verdade ou apenas uma versão conveniente para o jornal ou a TV. Com excelente memória, citava datas, nomes de lugares, de pessoas, recordava fatos, de tal forma que nunca lhe faltava assunto. Seus ouvintes estavam sempre aprendendo, mas o estilo não era professoral.
Comemorou o aniversário de trinta e seis anos no salão de festa do edifício em que residia, com a presença de grande número de amigos, amigas e alguns parentes. Os últimos convidados saíram perto das três horas da manhã, todos bêbados. Alonso dormiu até as onze. Levantou-se apenas para tomar um analgésico e voltou para a cama. Ao acordar, duas horas depois, lembrou-se de ter sonhado dirigindo seu carro numa cidade desconhecida, mal iluminada. Angustiava-se com a dificuldade de identificar as ruas em que devia dobrar, não havia placas de sinalização. Ao parar nos sinais vermelhos, o carro andava em marcha ré, por mais que pressionasse o pedal do freio. Com o sinal verde, avançava, mas já não sabia aonde se dirigia.
No dia seguinte, domingo, não procurou ninguém.Desligou o celular, almoçou sozinho num restaurante e voltou para casa. Leu jornais, trabalhou um pouco, sem o ânimo de sempre. Achou-se estranho, mas atribuiu tudo ao porre da sexta-feira. Decidiu dormir cedo para acordar disposto na segunda-feira. Das dez até a meia-noite rolou na cama, sem sono. O despertador tocou às sete, ele levantou-se, tomou uma ducha, e, enquanto se vestia, perguntou a si mesmo. aonde estou indo? Bem, agora estou me aprontando para ir à redação do jornal- pensou. Porém a pergunta continuou ali, acesa, fulgurante, paralisante. Parecia impossível sair do lugar e cuidar da vida. Já sei, devo responder onde quero chegar, ao longo da vida, por que me esforço tanto, para quê? É isto. Talvez fosse melhor tentar responder mais tarde, com calma. Não acredito que eu não saiba dizer o que quero na vida, sei, é claro, vou dizer. Só não sei por onde começar. Pelo trabalho, pelo dinheiro, pela fama, pelo amor, pelo bem-estar moral, pelo conforto material, pela saúde, que mais? Sei lá, quer dizer, sei, mas não tenho tempo agora para filosofar, tenho meus compromissos. Ajeitou o nó da gravata e decidiu partir. Não partiu. Olhou bem sua imagem e disse baixinho. calma, devo ter tido outro sonho estranho, nunca senti isto, tenho mais o que fazer, vai passar. Respirou fundo, pensou no café com croissant na padaria e percebeu que tinha fome. Antes de mover-se, sorriu e disse. vamos em frente. Deu um último retoque no cabelo e achou que devia ir ao cabeleireiro no fim da tarde. Em fração de segundos, associou as palavras cabeleireiro-frescura-brisa-praia-Fernanda, e não saiu do lugar. Aquela é dura na queda, vou cair fora, nunca mendiguei, sempre deu certo. Se eu insistir vai ser pior, não é isso que eu quero para mim. Já melhorei, pelo menos sei que não quero apaixonar-me. Saiu.
O ritmo do trabalho no jornal afastou o mal-estar. Terminou de aprontar a matéria e saiu para o almoço acompanhado de dois colegas. A pausa fez reaparecerem as rugas entre os olhos, sinal de alguma preocupação – os colegas já sabiam. No restaurante, Nelson, o mais íntimo, perguntou:
– Qual é a bronca?
– Que bronca?
– Não quer falar, não fala. Que tem bronca, tem; tá na cara – disse Rodrigues, o outro colega.
– Vocês sabem o que querem?
– Eu, filé.
– E eu, peixe.
– Duas antas. Perguntei se sabem o que querem na vida.
Os dois trocaram um olhar e disseram ao mesmo tempo:- Não disse? Nelson prossegue:
– Vamos encarar, amigo é pra essas coisas. Quanto a mim, acho a angústia necessária, pelo menos até certa idade, não pela vida toda. Ela me permitiu saber quais as perguntas para as quais eu tinha respostas e quais aquelas que eu jamais conseguiria responder. Daí em diante, dou sentido à vida com essas respostas. Só servem para mim, não sou médico para dar receitas. Só posso dizer isso. preocupe-se com as perguntas que você acha que pode responder. As outras, você guarda. Mais tarde, quem sabe, uma ou outra poderá sair da gaveta. As que consegui responder são suficientes para que eu não desista de viver. Entre os vinte e os trinta anos foi preciso ter paciência, senão, teria me matado.
– Que querem os amigos? – Disse o garçom. Os três riram, e, Alonso, dirigindo-se ao rapaz:
– Diga você, antes. O homem respondeu: – Já almocei, e vocês, que querem?
– Dois filés e um peixe.
– Fala, Rodrigão.
– Quando eu era menino, queria ser padre, mas desisti logo que o tesão chegou. Não tirava os olhos das meninas, e os padres diziam que era pecado. Começaram aí minhas dúvidas. A primeira coisa que fiz foi me afastar da religião. Meus pais não ligaram. Aprendi todo tipo de safadeza com os amigos da rua, e um deles gostava de ler. Emprestava-me livros de aventura e romances. Veio daí meu interesse por leitura não só de livros, de jornais, tudo. Não precisei escolher profissão, queria ser jornalista, mais nada. Meus grilos começaram quando pensei em me casar, aí, sim. Achava bom namorar, mas quando a menina falava em casamento eu esfriava, caía fora. Até que um dia pensei. se eu não me casar, não tiver filhos, vou interromper uma cadeia hereditária de DNA que já dura milhões de anos. Ouvi dentro da minha cabeça. e daí? Daí, nada, reconheci. Casei-me um ano depois, loucamente apaixonado. Ainda não me ocorreu essa pergunta de Don Alonso, repetida pelo garçom. Espero que ela só se apresente na minha velhice, quando terei tempo para filosofar. Não é melhor assim?- perguntou Rodrigues olhando para Alonso, que respondeu:
– Eu também achava, até hoje de manhã. Agora, não sei mais. Quero dinheiro, conforto, fama, mulheres? Muito vulgar, vocês não acham? Deixar uma obra imortal, com que talento? Dedicar-me a uma causa, que causa? A dos pobres – quanta hipocrisia! A dos ricos – eles não precisam. Aliás, os pobres até hoje só me pediram dinheiro e isso eu já lhes dou. Também já fui assaltado três vezes, eles tampouco precisam de mim. Não quero mais o papel de defensor dos pobres, era falso. Só me resta defender alguma espécie ameaçada de borboleta ou de orquídea. Talvez me realizasse defendendo alguma Nirodia, Ortilia, ou Prepona; ou uma Vanda, uma Arundina, quem sabe? Quem diria, preciso de uma Dulcinéia. O Sancho Pança, já tenho
– Quem é? pergunta Nelson.
– Um de vocês dois – homens práticos; qualquer um.
O garçom chega, serve os pratos, e a conversa muda para a principal matéria do dia. a morte de uma menina assassinada pelo próprio pai e a madrasta. Nelson fala:
– Olha aí, dá para filosofar diante dessa barbaridade? Se fosse raro, mas é cada vez mais comum, nem se fala. Esse caso estourou porque é classe média, vira espetáculo. Faço a matéria e penso em outra, senão enlouqueço. Não é que eu enlouqueça, é que perco a vontade de trabalhar, fico ligado nas imagens, sem fazer nada. Como no teatro. se o ator levar a sério, mata o colega que faz o papel de vilão. Ele quer que a platéia fique indignada, tome posição. Se alguém vai sair dali e engajar-se numa causa, isso já é outra história.
– A conta!- pediu Rodrigues ao garçom. E arrematou. Senor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, gero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.
Pagaram e foram embora.
Tempo sem pressa.
Na memória, a casa é o tempo. Morada das lembranças. Paisagens que recordo. Tudo bem perto, a casa em cima da ladeira e o rio embaixo, a linha do horizonte paralela ao fio de água aonde, no final da tarde, o sol vinha distribuir suas cores tristes. O quintal era um mundo mais importante do que a entrada da casa, como também do que a vida da escola que ficava do outro lado da estrada. As margens do riacho eram cobertas das ramas verdes dos jerimuns e das batatas-doces. A ladeira não era tão íngreme, começava na beira do rio e terminava nos fundos da casa. Compondo esse cenário, a porta de zinco e a janela fechada com um pano de lona amarela, desbotado. Do lado esquerdo, a lavanderia, o poço de água muito profundo e o quarto com a latrina. Do outro lado, uma mangueira bem alta, onde eu passava a maior parte do tempo brincando sozinho.
O pano de lona da janela protegia a cozinha do sol da tarde, mas também daí se via todo o pátio até o horizonte. Junto da cozinha era o quarto pequeno onde minha irmã dormia na rede. O primeiro quarto era do pai e da mãe. Tomando quase todo o espaço, a cama grande com o colchão de palha. Ao lado, o guarda-roupa velho, escorado na parede, com a porta arrebentada. O interior da casa era sombrio, as cores pardacentas cobriam as paredes esburacadas, o piso e o teto. A porta da entrada ficava sempre fechada, o corredor estreito ia até a porta de zinco. Na cozinha, o barulho das panelas e os resmungos da mãe era somente o que se ouvia. Tempo sem pressa.
Uma nesga de história me chega à memória. Muito mais pelos sons do que pelas imagens. Uma explosão veio lá do lado de fora. Fiquei paralisado por alguns instantes. Eu estava embaixo da mangueira frondosa com minhas bolas de gude, tentava acertar uma bola com a outra, de forma que a bola batida fosse parar no buraco, logo adiante. Já tinha acertado duas, no alvo, quando uma gargalhada explodiu lá da entrada nos meus ouvi-dos. Imobilizado pelo susto, logo reconheci que era ele.
Voltara para casa mais cedo, mau sinal. A explosão de gargalhadas continuava e agora acompanhada pelas batidas na porta, fazendo uma outra explosão percorrer toda a casa até o pátio. A mãe correu para abrir a porta, mas foi tarde. A porta, com uma nova batida, abriu-se derrubando ela no chão. Ouvi o som seco do seu corpo caído e as explosões de repetidas gargalhadas.
O silêncio não teve tempo de se fazer e novamente ouvi a pancada do seu corpo no chão. As gargalhadas não paravam e ela saiu correndo e chorando, para a beira do riacho, parecia que tudo ia se acabar. Escorei as costas no tronco da mangueira e deslizando fui parar no chão. Fiquei ouvindo o coração bater forte. As carnes tremiam dos pés à cabeça. Devagar, me abracei e com as mãos alisei o pescoço, o peito, a barriga e as coisas entre as pernas . Respirei várias vezes tentando não ouvir mais nada.
Tudo começou de novo, o estrondo agora era do guarda-roupa sendo derrubado. Ouvi a gargalhada recomeçar e olhei para a janela, que não tinha mais a lona. Vi o pai, com a espingarda de cartuchos nas mãos, debruçado sobre o parapeito de madeira velha, que fazia o aro do buraco da janela. A cachaça tinha soltado os seus demônios. Olhei para o lado do rio e vi a mãe se arrastando, procurando se esconder. A espingarda voltava seu cano para as imediações do riacho e o dedo no gatilho detonava o primeiro estampido, que foi seguido da explosão de muitas gargalhadas e de soluços agudos.
A tarde demorava, a claridade insistia em iluminar o quintal, as cores e o contorno das plantas, da ladeira e de tudo mais, inclusive a figura do pai na janela fazendo pontaria para o segundo disparo. Estremeci, não sabia onde ela estava.
O tiro fez eco no horizonte onde o sol recolhia lentamente seus últimos raios coloridos, a escuridão começava a tomar conta de todo o cenário triste. Silenciosamente me deitei no chão, debaixo da mangueira. Respirei fundo e com as mãos recomecei a alisar meu
corpo trêmulo. As mãos nervosas tocaram meu rosto e fui apalpando parte por parte até os pés. Fiz o movi-mento de volta e parei. Com as duas mãos segurei meu pau e meus ovos, prendi a respiração e apertei com força. Senti dores, abri as mãos. Repeti a experiência várias vezes. Reclinei a cabeça no tronco da árvore e estirei o corpo todo em cima da terra. Imóvel, calado, pedi, não sei a quem, para que a tarde fosse logo embora.
O terceiro estrondo encontrou a escuridão e não foi seguido da gargalhada explosiva, somente soluços estridentes eu ouvia. Parecia que tudo estava acabando. Abri os olhos e procurei distinguir no escuro o que estava em meu redor. Vi a ladeira, a casa e as águas do riacho correndo. Olhei para cima e os galhos da mangueira não encobriam o céu escuro.
Deitado embaixo da árvore olhava a casa, que parecia uma mancha cinzenta de contornos borrados. Não sei como o tempo passou, se foi rápido ou devagar. Tudo era muito confuso na minha cabeça, tinha perdido os pensamentos, não me lembrava mais do canto valente dos bem-te-vis, que ouvia pela manhã, nem mesmo dos grunhidos agressivos dos pardais. A estrada, a escola, a minha professora, nenhuma idéia de-morava. Estava cansado de tudo.
Continuei confuso e não sei quanto tempo se passou naquele fim de tarde. Levantei devagar e me escorei no tronco da mangueira. Procurei enxergar algum vulto para os lados do rio e de repente ouvi passos em minha direção. Era a mãe. Olhou pra mim e sem nada falar me abraçou. Seu corpo estava molhado de suor e sujo de areia. Os ramos de jerimum e de batata, presos nos braços, adornavam a sua imagem de sobrevivente. Segurou firme a minha mão, caminhando com cuidado para a porta de zinco. Subindo os batentes, começamos a ouvir o ronco alto e ritmado. Ele dormia e isso nos aliviava. Andei para o segundo quarto. Minha irmã, na rede, abraçada com a boneca, também dormia. Descobri o colchão com os pés, deitando-me sem fazer nenhum ruído. Respirei o cheiro quente do suor que invadia todo o espaço. Foi essa a última marca daquela tarde. De uma tarde que nunca terminou.
João Pessoa, 2006.
A dama da noite.
Todos dormiam a sono solto. Os pais, inclusive. Aquilo era uma loucura, mas sabia que era a única oportunidade que a vida lhe dera até então. Seca de desejo, esperava. Ia e vinha, com ansiedade juvenil, pelo comprido corredor de piso português que o velho mandara buscar na terra pátria. Os negócios iam bem e já dava para se ter algum conforto.
Fazia tudo para desviar o pensamento. Recordou o tempo da chegada ali, a viagem por transporte marítimo, vestido e chapéu rosa pálido, presentes da madrinha cantora de fado, e os irmãos menores a chorarem com medo do apito do navio. Muitos lenços brancos de despedida. Não teria sido aquilo também uma aventura?
Voltou, não tinha remédio, o pensamento para Antônio. Até nome português portava. Homem belo, alvo, cabelos e olhos bem pretos, sobrancelhas espessas, mas estudante pobre. Não era de gosto da família.
Esperava-o. Havia marcado vir buscá-la. Mas aquele silêncio falava mais alto. Apenas o som do vento a balançar trepadeiras espinhentas, cheias de flores ama-relas. A imaginação voava, confundia qualquer barulho com os sapatos do amado. Olhava o antigo relógio, oitavado, herança dos avós. A essa altura, um tempo infinito já se passara. Boca seca, procurou água na cozinha. Tomou suco de tangerina. A ama apareceu de relance, enrolada num lençol, e lhe dera uma desculpa amarela.
O coração batia cada vez mais rápido em ritmo da espera. Trêmula, desejava já estar nos braços dele, alisando os pelos da masculinidade do amado… Era quando iria sentir-se segura e inteira.
Cochilava e acordava, via-se só, desamparada. Impiedosamente lentas, mesmo assim, as horas não deixavam de passar. Agora, um gole de chá de camomila. Olhou a lua, ainda lá, brilhante, mas sem aquela aura romântica dos amantes felizes. A beleza estaria no encontro com Antônio.
Foi-lhe dando fraqueza nas pernas, nos braços. O sofá aconchegante da sala chamava-a, por consolo. Anima tivesse, estaria com dó de Maria – tinha também dois braços fortes e sua textura era prazerosamente macia. À última instância, antes do colapso total, o acolhimento daquela peça antiga. Ainda assim, num restinho de consciência, manteve as pernas penduradas, quase a tocarem o chão, para não liberar totalmente o sonho. Acordou com o sol a bater-lhe, sem escrúpulo, o rosto repousado. Sentiu, de imediato, o contraste em sua vida. a dama da noite com que os romances fizeram-na sonhar e o imenso clarão do dia, outro dia, tão real e acolhedor, disponível ao seu usufruto sem limites ou qualquer constrangimento.
Limiar.
Maria Adelaide Câmara.
Mais um dia de trabalho, a arena está pronta, sem espectadores, só contendores, ou melhor. um contendor-espectador vs um espectador-contendor. Bem, isso é para depois, vamos aos antecedentes.
Certa vez, aterrissa em pacato consultório um casal jovem que arrasta um rebento de 5 anos mais ou menos.
– Dr., este é Asterix, não queria vir, mas Dra. Fulana pediu-nos para trazê-lo. Que motivo? Ora, o motivo é que as pessoas implicam com ele. Sempre, desde sempre. É um ótimo menino, meio disperso, é verdade… seu problema é a dispersão. É nosso único filho. Na escola, ele até vai bem, mas os colegas não aceitam ele, tá sempre deslocado, passou uma época muito agressivo por causa de um filme que proibimos que continuasse a ver; imagine que, não faz muito tempo, o professor de capoeira quase nos implorou para que não levássemos mais ele pras aulas. Ele parecia gostar tanto de Asté! O que mudou? Passaram a discriminar o menino. Diziam que ficava deitado quando era para sentar, de quatro quando era para ficar em pé, ficava mole quando era para ficar duro, cuspia no chão, melava os companheiros, lambia tudo, metia o dedos onde não devia…
O rosário de queixas e de panos mornos prosseguia enquanto o fedelho, movido a motor, interrompia, amassava desenho por desenho à medida que os concluía, ajoelhava
se, de mãos postas, pedindo para ir embora, choramingava, cochichava, puxava … e mostrava um especial apreço em se contundir, sem demonstrar qualquer sinal de dor. Empregadas haviam sido dispensadas, escolas trocadas, familiares colocados no gelo… De Jó era a paciência dos pais !!!
Se apostas tivessem havido, quem escolhera “encontros tumultuados” seria o vencedor. Asterix não parava. Queria sair da sala, ameaçava, e cumpria, jogar materiais pela janela, derrubava cadeiras, ia para debaixo da mesa, gritava pela mãe, chutava a porta, cuspia no chão, queria fazer xixi, queria fazer cocô, tropeçava, batia a cabeça e as canelas em qualquer quina e nessa e dessa agitação iam surgindo, a duras penas, em pequenos e grandes golpes, desenhos, fantasias em torno de super-heróis, de pós mágicos, preocupações filosóficas em torno do bem e do mal, medos, monstros, A GRANDE CORAGEM. Seu ponto forte eram as frases bem construídas, o vocabulário rico, a boa dicção. Seu ponto fraco. o demasiado tênue limite.
Mas, voltemos. a arena estava preparada para mais uma refrega, a última, talvez. De tamanho, eram desiguais. De sentimentos, nem tanto. As declarações de desamor eram recíprocas. Um era o inferno do outro, de potência a potência. Cada um tinha no outro a justificativa de sua existência. Um implorava por uma âncora, pelo avesso do caminho. O outro descobria-se à deriva. Enfrentavam-se, ímã e ferro, amavam-se de modo perverso.
Sentam-se face a face. Começam civilizadamente. Esboçam-se histórias em torno de imagens. De repente, uma delas voa, impulsionada pela pequena mão. O desafiante de menor tamanho mergulha em baixo da mesa e ali fica. O maior sente um estranho roçar de dentes. Esquiva-se escutando:
– Vou morder você, você é um pão, um pão gostoso, vou morder…
Depois do bote errado, um punhozinho frenético procurando seu alvo é contido em pleno vôo.
– Você é um pão forte, admira-se – eu fiz você, você é um robô. Fui eu que fiz isto verde em tu – aponta todo contente uma roncha antiga que surpreende no pé do oponente maior. Esse tenta salvar todas as preciosas figurinhas que sobem, revoluteiam e se esparramam. O outro desiste e cospe, cospe e cospe. Não acerta a pontaria. Recua o predador. Corre para a janela.
– Vou pular – ameaça.
– Você pode morrer – adverte o maior, aproximando-se.
– Eu me agarro naquela folha.
– A folha não aguentará, você vai se esborrachar.
– Eu quero morrer, eu quero morrer – diz tranquilamente o menor.
Abandona a janela, deita-se no chão, o maior senta-se pertinho. Começam então uma conversa amigável. O pequeno pergunta:
– Eu não tenho medo de nada, e tu? Tu tem medo de cobra? Tu tem medo de rato? Tu tem medo de escuro?
Desfia a pequena lista de temíveis, divertindo-se quando as respostas são afirmativas.
– Eu não tenho medo nem de monstros, nem de fantasma. E tu? – prossegue – tu tem medo de fantasma, de bicho papão?
Diante da resposta negativa e descrente, ele continua firme:
– Eu acredito – E vai em frente com um riso maroto: – Eu vou com você para uma floresta com minha espada de plástico que é forte e mato, mato o que aparecer. cobra, bicho perigoso, monstros… Eu vou na tua frente, te protejo.
– Mas, Asterix, como posso ir com você para a floresta? Você gosta de se machucar, e se você deixar a cobra picá-lo, e se você deixar um galho bater em sua cabeça e desmaiar como é que vai ser, que será de mim ?
Depois de uma boa risada, o pirralho passa a intercalar frases estrangeiradas, com um bom sotaque do tipo inglês americano, a um quase monólogo:
– Eu tenho 2 pais e 4 mães. Não. Tenho meu avô que tem dois, meu pai do céu, meu pai verdadeiro e também a mesma coisa da minha mãe, pai, pai do pai, avô e Deus . Ei, Dr., vou te ensinar como se faz xixi sentado, é assim…os cavaleiros místicos… o pó mágico… Pata Negra é muito chato, ele morreu porque quis, ele morreu porque ele quis.
– Como é?
– Não vou dizer.
Soa o gongo. Fim da luta.
O maior levanta-se. Deixa o anfiteatro. O menor o segue. De repente, como a lembrar-se de algo, retorna e, como um grande e desajeitado pássaro, sai voando pela janela.
*Ouvinte, amante da ficção alheia, balbuciando seu próprio fingimento.
O vôo da tiara.
Teresinha Ponce De Leon.
Ana, avó materna; Alice, a paterna. Antes de nascer seu nome já fora escolhido. Analice. Primeira filha, primeira neta, tornou-se logo o xodó da casa.
Risonha, não estranhava ninguém. Signo do ar, Gêmeos, destinava-se a grandes vôos, profetizara tia Isabel.
Aos sete anos começou os estudos no Grupo Escolar João Pessoa, o melhor de Pasto Santo. Aos nove conheceu Carmozenilda, que viria a tornar-se sua melhor amiga.
Analice crescia. Moreninha clara, cheia de corpo, cabelo liso que a mãe dividia ao meio e arrematava numa espécie de pitós, tão apertados que lhe ardiam no juízo e a deixavam com cara de chinesa.
Um dia, no recreio, gritou por Carmozenilda. Quando o nome retornou-lhe aos ouvidos, ampliado pelas ondas sonoras agradeceu a Deus o prenome herdado das avós. Um perigo certas homenagens.
Freqüentava as aulas de catecismo e aprendia piano forçada pela Mãe, concertista frustrada. Sonhava mesmo em ser bailarina, mas era tocar no assunto e o Pai
major reformado das forças armadas, retrucava:
– Não criei filha para sair por aí rodopiando que nem louca a mostrar as pernas pra todo mundo.
Quinze anos, única mulher em meio a quatro irmãos só piorava o quadro.
– Filha minha, se quiser trabalhar vai ser professora. De criança. Casar? Quando for tempo, faço uma vistoria nas crias dos compadres. A Mãe, D. das Dores, só fazia balançar a cabeça. Nem piava, nem mugia, como se diz por essas bandas.
A tia Irene, mãe de Zé Antônio, estudante de Medicina, bem que fazia gosto num namoro dos dois – vira o filho arrastando as asas de frangote pela prima. Moça direita e prendada como a sobrinha era artigo em extinção.
Mas, quem poderia prever o que esperava Analice – tiara dourada no cabelo, vestido de listras amarelas, sandálias Melissa, modelo Sandy – que fora, cercada de amigas, assistir ao show mais esperado do ano, no auditório da Prefeitura? Precedidos pela fama nas cidades vizinhas, os Bad Boys eram público garantido. Destaque do grupo, o vocalista
gingado de malandro carioca, olhar obliquo e dissimulado, mandíbulas à Tarcisio Meira, jovem, chamava-se Doremi Siboney. Quando o conjunto atacou a terceira música, ele dardejou o tal olhar à indefesa Analice, dezesseis anos de intocados hormônios em ebulição.Tanto zelo, tanto estudo, tanto cuidado com sua coceira alérgica. Foi tudo para o espaço. Estava escrito nas estrelas.
Depois do show não foram mais vistos.
Passados doze anos, anunciou-se com estardalhaço a vinda da dupla de renome internacional, “Los Astrales” para inaugurar o teatro municipal de Pasto San
to. Cartazes espalhados pela cidade exibiam a foto da estrela do espetáculo, a espanhola Sol Ardiente, de indomada cabeleira negra e olhos verdes de tirar o fôlego. Na noite de estréia era grande a expectativa e, tão logo as cortinas do palco foram abertas, o público delirou. A orquestra tocou um número, aumentando a ansiedade da platéia. Então, entre o ribombar dos pratos e os olhares suspensos, entrou em cena Sol Ardiente que, mal pisou no palco, tascou um paro doble, deixando à mostra belo e fornido par de pernas, levando à loucura o público masculino. Seu par não deixou por menos. pele azeitonada, cabelos com luzes douradas bateu o tacão das botas no assoalho e lançou à platéia feminina, um olhar derrapante. Foi coisa de segundos. Carmozenilda, o grito precedendo o desmaio, botou a boca no mundo:
– É ele, é o que carregou Analice! O palco veio abaixo. Olho roxo, cabeleira desgrenhada, quase sem roupa, Doremi Siboney, nome de guerra de Raimundo Nonato, arrastou pelas mãos, Sol Ardiente, ex-Analice , olhos verdes às custas das lentes, apliques capilares caindo-lhe pelos ombros que, apesar de tudo, parecia feliz.
Era uma estrela.
Não uma bailarina, como desejara. Melhor: era Sol Ardiente, rainha do paro doble.
Sou um ser concomitante: reúno em mim o tempo passado, o presente e o futuro, o tempo que lateja no tique-taque dos relógios.
Água Viva
A árvore de Pandora.
Ângela Carolina Cysneiros.
Aquela outrora bonita e alegre mulher, todas as tardes de domingo senta-se à calçada, solitária, em uma pequena cidade, com o seu baú de lã para tecer fios e sonhos. Cada fio que puxa lhe traz os mistérios de histórias passadas na infância que já se faz longe. O olhar é sempre atraído pelas árvores que povoam a praça do interior. E ela sabe que o interior por elas povoado é o seu também.
Pegou costume de pelejar com a memória para lembrar de todos os fatos de sua vida. Missão impossível. A vida tem a sábia mania de mandar para o território do esquecimento fatos de que não gostamos de lembrar. E a vida tem sempre razão.
A razão, porém, – não aquela da vida, que não conhecemos, e que também tem suas artimanhas -, algumas vezes, toma as rédeas de cavalos brancos alados e, por descuido ou cansaço, deixa-se levar pelos campos eliseos habitados por Morfeu, dando passagem para que os diabinhos do Hades interior venham, camuflados, atiçar os novelos guardadas no baú da lembrança. Às vezes de forma clara, outras nem tanto, mas, na maioria delas, como gostam, usando de metáforas que é para o sonhador acordar com eles todos circulando com seus tridentes invisíveis, beliscando mente e nervos.
Ela, a mulher, sempre que sente que é visitada por aqueles pequeninos demônios, faz um esforço hercúleo, para agarrar um deles pelo rabo e pedir explicações. Inúteis tentativas. Eles são rápidos como um cometa e parecem jogar em sua direção o pozinho do esqueci-mento que soterra as idéias que já pululam confusas em sua mente.
Tudo se esvai como que por encanto, mas a mulher sabe que ali, naqueles pensamentos esfumaçados, em meio àquela bruma, há uma mina de respostas às suas inquietações mais íntimas, mais mínimas, as quais guarda dentro do baú, num escuro quarto, sem janela e sem tramela. Pensa sempre e se pergunta, sem reposta, ora se estão tão guardados, por que teimam em surgir como estrelas encantadas? E por que desencantam e voltam ao espaço, num vai e vem que atordoa?.
Naquele domingo, pensou no sonho que tivera, na semana anterior. era criança, corria e corria, amedrontada pelo quintal da casa de seu avô quando todas as árvores, que não eram muitas, mas eram grandes e velhas o bastante para amedrontá-la, se puseram a correr atrás de si. Corria e corria e as árvores também. Pensava, como podia tudo aquilo acontecer? Como o quintal que era tão pequeno podia tornar-se tão longo nessa fuga? Tão escuro e tão tenebroso?Acordou assustada, e os diabinhos mais uma vez tinham agido rápido e fizeram-na esquecer. Que susto! Susto? Por que meu coração bate tão descompassadamente? Silêncio perturbador. Não lembrava.
Esquecida estava, esquecida continuou. Mas eis que a vida por razões que somente ela sabe, surpreendeu a mulher. Dia seguinte, saía de casa, a caminho do trabalho, com aquele estranho desconforto acompanhando-a, quando tudo clareou. À sua frente, ia um táxi e o passageiro estava com o braço direito para fora. A mulher sem se dar conta, soltou um grito abafado, de susto. Foi quando o sonho, esgueirando-se pelos escaninhos da mente, projetou-se em sua frente. O braço. Aquele braço. Que tinha aquele braço? Não era um braço igual aos demais, mas um braço deformado, assustadoramente deformado. A mulher teve, então acesso ao sonho que tanto a perturbara, não era um braço, era uma árvore, igual às que a perseguiram ao longo do interminável quintal escuro da casa do avô, naquele interminável e assustador sonho. Que estranha visão, que cruel lembrança. Que submundo terrível o da memória que vela e desvela. Braço e árvores, que segredo ocultam…
A mulher que adora a natureza, os animais, as plantas e as árvores, entendeu o porquê do medo que sentia ao se aproximar de uma bela, frondosa e bondosa árvore que lhe dá sombra, fruto e serenidade. Seu silencio grita para ela, lembrando o que não deve sair do poço das lembranças. Lembrando o que restou daquela casa e que estava tão guardado como aquele último Dom, na caixa encantada de Pandora.
O jogo.
Depois de tantos anos volto a lembrar daquela tarde. O que aconteceu não é difícil de reconstituir, o jogo espetacular, a seleção sensacional e o nosso pai deitado numa cama de hospital..
As copas anteriores haviam sido diferentes. Na casa dele, a sala de televisão era o lugar da torcida. Sua presença marcava a alegria, dizia bem alto vamos vencer e logo ficávamos atentos ao jogo.
Naquela tarde, nada dava certo. Papai com um AVC, o Brasil jogando sem conseguir dominar o adversário e a Copa ficando mais distante. Ora estávamos classificados, ora perdidos. No terraço do quarto do hospital, ouvindo o jogo pelo rádio, sem fazer barulho, contraditoriamente, eu queria que ele ajudasse a torcer.
Procurei saber o real estado dele. O médico amigo disse. tudo está bem, a pressão está controlada, foi só um espasmo, um susto, mas ele tem de prometer ficar quieto e na próxima semana não viajar para o Rio de Janeiro. O pai fez um murmúrio afirmativo, fingindo concordar. Claro que ele iria para a cidade de seus amores, disso eu tinha certeza.
Voltamos a escutar a partida Brasil versus Itália, mas já descrentes da vitória, quando tio chegou emocionado com a notícia do problema de papai e decepcionado com a seleção. Tudo ficou ainda mais confuso, o tio chorava, as nossas forças de torcedor diminuíam, e não sabíamos o que o doente achava de tudo aquilo.
Combinamos, eu e o meu irmão, não esperar mais, a irmã como sempre atrasara, iríamos torcer em casa. Papai dormia, o tio estava junto dele e tudo parecia, dentro do possível, calmo.
Tomamos o carro e continuamos ouvindo o jogo, agora pelo rádio do veículo, mas em outra estação que era a favorita e que poderia até nos dar mais sorte. An-damos cerca de um quilômetro quando o locutor gritou o gol do Brasil. Sorríamos sem parar, a alegria voltara, a vitória seria uma homenagem a ele. O trânsito estava livre e nós estávamos bastante apressados para chegar quando o sinal fechou. Irritados, o pessimismo tomou conta da emoção e para aumentar o aborrecimento o carro morreu. Recomeçamos o trajeto prestando atenção ao som do rádio. Chegando em frente à minha casa paramos e a emissora fazia um barulho estranho, fora de sintonia. Ouvimos o grito de tristeza do locutor. gol de Paulo Rossi. Desci com muita raiva.
No portão, a mulher esperava, perguntou. como está ele?. Gritei bem alto. ainda bem que está dormindo.
Mudança.
Alba saiu de Taperoá aos dez anos, deixando, com saudade, sua professora Dona Odaci e o Grupo Escolar Félix Daltro. Subiu no pau-de-arara que a levaria a São Paulo, onde o Pai, que já tinha dois irmãos lá, iria trabalhar na Colgate, É preciso sair daqui para as meninas se formarem, Alba e Albânia.
A chegada ao destino foi impactante. por mais que as cartas falassem da diferença, era impossível imaginar tanto carro, tanta gente, zoada, lonjura. Com o tempo foram se acostumando, Alba fez magistério e concurso, ensinava na Escola Estadual Bandeirantes.Na reunião mensal de professores, conheceu Olavo, físico, com quem entabulou um romance mal visto pela família, uma vez que ele era negro.
– Olhe, dizia o pai, é melhor casar com um primo, pois se a gente precisar voltar pro sertão ele não chia. Acho esse rapaz letrado demais.
-Mas que besteira é essa, homem! dizia a mãe, um rapaz educado, soube que pode até ser parente de um tal Olavo Bilac
Alba passou maus bocados quando percebeu que estava grávida.
– Meu Deus, o que será de mim? Fui confiar que, por ser de Virgem, assim ficaria por toda vida. Engano, engano …
Depois dos habituais escândalos familiares, Alba casou, sem poesia, com o moreno. A falta de poesia porém separou-os três anos depois, restando como elo a filha Albanita.
Chegou o tempo das vacas magras. Recessão econômica, demissão em massa. A família paterna resolve voltar às origens, e Alba os acompanha. Não sentiria falta das atividades culturais da metrópole, pois quase nunca as frequentava. Talvez de alguns amigos, colegas de trabalho, do chefe, aquele que a assediava sexualmente, de segunda a sexta dava-lhe uns amassos de primeira. Mas … fazer o que? O cara é casadíssimo, e galinha. Uma vez viajou para São Luiz do Maranhão, a trabalho, e a levou. Alba inventou tanta mentira para fazer a viagem que ficou torta de remorso. Ele a levou para dançar reggae, foi um delirio. Ela só sofreu com as flores do motel, espirrou, espirrou tanto, que quase não chega aos finalmente.
Alba resolveu voltar com os pais, depois de vinte anos e uma filha. Preparou-a exaustivamente para a empreitada, falou do que se lembrava, das secas, mas prometeu:
– Se não der certo nós voltamos.
Ao chegarem encontraram um grande alvoroço. duzentos profissionais da Rede Globo instalaram-se na cidade para filmar A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Recrutaram membros da comunidade, artesãos de diversas áreas, num trabalho conjunto de grande beleza. As duas se cadastraram no projeto, e, na saída, Alba respirou fundo, abriu os braços e disse:
– Seja o que Deus quiser!.
A triste história de Maria e João.
Glauce Chagas.
O sono não vem essas lembranças me perseguem prefiro ficar só a amargar num lugar de loucos feito a mãe João tão feio dentes podres eca vontade de chorar se eu chorar as mágoas passam olhos secos que doem choro muitas lágrimas caindo como cachoeira a gente pequena tão gostoso aquele som chuá chuá que tempo bom aquele não Maria tudo
parecia normal depois a tragédia as sirigaitas do meu pai putas demais gasguitas louras-de-farmácia sararás me dava ódio aquelas calças justas de puta rolando os pés com uma tiras perfume de puta forte de enjoar quase vomito agora minha barriga embrulhou Laura que me dizia devia estar de olho nele também aquela fofoqueira trocar minha mãe fina educada tocava piano estudava alemão prendada tão bonita na foto da parede cabelos lisinhos minha vó com posses tinha venda no interior e terminar com um caipira safado sem eira-nem-beira só programas com mulheres galinha bom foi naquele dia eu tanta tristeza lá vem a carrocinha do algodão‑doce tão bonitinho fazer algodão doce desde pequena que gosto me sinto tão bem é uma coisa inocente do açúcar vai crescendo surgindo outra coisa tão bonita e gostosa parece nuvem se quiser tem cor-de-rosa também até esqueci a dor da saudade de não ter mais mãe as vizinhas ruins não prestam pra nada vivem tomando conta da vida dos outros não têm o que fazer não fazem nada por a gente o algodão é doce mesmo ele é bonzinho o Zé me deu umas sobras crocantes não tinha um vintém furado é uma carência da peste será que era uma cantada do molecote fico desconfiada sou sozinha o povo gosta de se aproveitar não vou deixar tão bonita eu de noiva véu bem comprido as flores do jardim para o buquê me sinto feliz só em pensar será que ele casaria comigo ninguém dá algodão assim à toa principalmente os homens meio bichos parecem mesmo uns bichos da rua cães sem dono tem cachorro por aí mais manso totó era tão bonzinho vivia no meu colo tomava leite passeava muito com ele o tempo passa aquela brutalidade não vem que não tem João era abestalhado ou se fazia amoroso sentia aconchego bom nos braços dele muito medroso de mulher não sei como aguentava aquelas porradas e eu sem pai nem mãe ninguém me dá não senão leva também dá uma raiva essa precisão ninguém vê parece tudo cego vou ficar cega também para os outros e pensar só no meu prazer de viver buscar cavar subir descer o que for preciso dane-se tudo a pessoa precisando de carinho e ninguém dá um absurdo vidinha difícil será com os outros assim danem-se todos só eu com um João um Zé ou mane vai ser assim padre de meia tigela dizendo mentira na igreja botando culpa na cabeça dos outros Jesus vê isso e ele vai é para o inferno as ofertas bota no bolso e eu precisando cheio de pecado é ele enganando o povo chega me dói no corpo a falta de chamego de abraço bem apertado essa de me colar com outro queria descobrir alguma alma pra se entrosar com a minha tá tão fraquinha mesmo que vire uma alma só mais forte não fazia questão não João era fraquinho também que diacho de fraqueza a do homem eu pensava que homem fosse sempre forte preciso tanto de um cafuçu bem forte que me bote nos braços fico até arrepiada a alma do outro é uma coisa muito gostosa será que é sonho estou dormindo ou acordada nem sei quem sabe a alma daquele troço seria igual à minha tinha mãe tinha pai o pai deixou a mãe por uma rapariga a mãe endoidou também vivia era apanhando se a pessoa não tiver uma outra alma pra acochambrar está tudo perdido alma tenho é medo disso a gente nem vê só sente aquele cemitério maninha lá tanta cruz tudo gelado sinto um frio na espinha cadê meu lençol haja buraco tenho é medo de morrer a morte é lasqueira eu tão nova pensando em juntar as almas e ele com enxerimento para aqui enxerimento para acolá por isso dá no que dá os homens-cachorros e as mulheres-putas que desgraça vida complicada não gosto não nem dormir eu durmo esses pensamentos doidos foi sempre assim o sono a ir embora olhos danados pra secar gota serena levantava cedo para ajudar os outros pegarem uns trocados pra dar de comida àqueles murrinhas que a doideira do pai fez eu herdar que merda coitados mas eles não tinham culpa ainda quem sabe estão pagando pelos erros dos outros como eu essa é a vida será que está tudo escrito aquela visita a mãe foi horrível ficou tudo confuso pra mim não sei se o povo ali era que estava certo é melhor ser doido mesmo a vida não é pra se aguentar daquele jeito que era amar e ser galhuda dá dó vou enlouquecer qualquer dia também uma velha tirando a roupa mostrando as pelancas que eram os peitos dela copo de leite enfiado na boca tenho é nojo da loucura da pobreza não a vida não é assim tive quase um homem pela frente mesmo com dentes podres pele seca cabelos grandes desgrenhados de descuido era horrível o coitado o zé é mais bonitinho mas sou velha pra ele algodão-doce bom danado mas arrumei João ele viu pouco o que ia ser tão bom pra tosse me animei toda ia ser dona dele a mulher dava nele já era dona poderosa a danada eu ia ser dona do amor amá-lo muito até dar vontade de que ele morresse pra ver o tamanho daquele amor que ia dar apertá-lo ser a macha dele toda pra ele e mãe dele um pouco acho precisava de manha o coitado bem sentia que não ia aguentar era tão fraco apanhava da mulher na certa faltou surra de mãe melhor que deixar uma traíra qualquer safada lhe bater mulher igualzinha um travesti tirava o couro dele coitado achava que ia ficar sem João se eu fizesse uma com ele tinha que ir devagar com o miserável na surra do amor mas ainda não tinha coragem de ficar sozinha com ele não sabia o que fazer naquele tempo pensava pensava não saía nada primeiro tinha que dar um banho nele e lavar a boca dele com juá não era o cinema ainda tinha medo dele estou vendo tudo preto agora com essas lembranças de novo os doidos João os vira-latas a nuvem do algodão-doce João parado tinha medo que sumisse aquele danado ia me deixar só de novo e foi o que aconteceu igualzinho que fraqueza gota serena quem mandou o danado morrer na hora que tive o aconchego do amor meu corpo me dói quando penso nos amassos o medo a policia as vizinhas fofoqueiras tudo do mesmo jeito se fosse galinha como o pai estaria vivo hoje não consigo cochilar com essa lembrança dos meninos me azucrinando o juízo não sei onde estão agora pobres moleques tão levando vida ruim tanto perigo na vida sozinha de novo parque lindo floresta tem até rio com cachoeira sem choro um novo homem que milagre estou precisando tanto dum milagrezinho parece um índio vi um desse na revista não não é João nem parecido gosto mais desse mais forte que não morre aguenta mais será vou caber todinha nos braços dele que músculos não sei mais de nada dor danada dormente meu corpo está formigando não é do doce é mais do sangue nunca mais tomei purgante que gosto horrível meu coração está batendo cadê o homem xi já é dia vou ter que ir à luta pensei que ia morrer cruzes só tem agora Zé do algodão quero ficar com ele aquele jogo do algodão tem que dar em alguma coisa é muito algodão para o meu gosto oxente quero mais que algodão coisinha mole tão passageira vai logo embora derrete todo na boca logo logo que coisa mais besta.
Beatriz.
Marcelo Augusto Veloso.
Para a Beata Mocinha, não a do Juazeiro, do meu Padim Padre Cícero, mas Beata de Beatriz mocinha por ser nascitura mulher, velosa califa de Filipe e Maíra.
Entrei na loja Imaginarium, sabendo o que ia comprar para Beatriz. Várias pessoas me perguntam se estou caducando com a minha neta. Sinceramente, não. Para mim é uma coisa ainda muito remota. Fui direto à estante onde estava a minhoca de madeira que tencionava adquirir. Tive uma decepção. Na minha imaginação ela era bem maior, mais chamativa. Tinha até pensado em comprar uma embalagem de presente que tinha visto em outra loja. um cilindro com manchas cinzas e com um laço de fita grafite. Colocaria
a minhoca dentro, de onde seria tirada, não de uma vez só, mas seria puxada como se puxa uma cobra grande de dentro de uma mala, a mala do homem da cobra. Diante da decepção, lembrei-me que a mãe de Beatriz, Bia, Beá para os que se sentirem íntimos, Maíra, tinha sugerido um pinóquio. Na verdade, o que eu gostaria mesmo de comprar era um bichinho de pelúcia. Os bichos de pelúcia me encantam. Gatos, cachorros, leões, tigres, focas, ursos panda. Esses especialmente.
Palavra atrai palavra, ou por ser semelhante, ou por ser contrária, ou por quê ninguém sabe. Beatriz atraiu beata nox. De repente veio-me à memória um secular hino católico. Leia-se em latim, pois é nesse idioma que ele torna-se prenhe de emoção, como a mãe de Beatriz, suponho. E o pai também. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam Beatricis adsum. O vere beata nox, in qua terreais caelestia, humanis divina junguntur’. Só a noite do corpo de Maíra, quando se juntaram as coisas divinas e humanas dela e de Filipe, sabe o tempo e a hora que a Beata entrou nesse vai e vem que se chama vida.
Quando nasciam as minhas filhas pensava num dito de Grande Sertão Veredas, Minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Pensava só no futuro, que foi presente e já passou ou está passando. No mundo que torna a começar. O que torna a começar é por-que um dia iniciou, girou, acabou para começar. Hoje penso no meu futuro, no declino da roda, que não é mais futuro, mas presente. Ao nascerem as três graças de Olinda, já tinha girado um quarto da Roda da For-tuna, que, no caso, é mais roda do tempo, se bem que a fortuna roda no tempo.
Quando recebi as três graças, foi-se mais um quarto. Dois quartos. O nascimento de Beatriz leva o terceiro quarto. Resta-me um quarto. Após esse quarto, serei lembrado durante o percurso da metade da roda.
1 “Ó noite verdadeiramente feliz, única a merecer saber o tempo e a hora quando Beatriz disse. “Eis-me aqui!“ Ó noite verdadeiramente feliz, na qual terras e céus, humanas e divinos se jungiram.“
Na ponta dos pés.
Teresinha Ponce de Leon.
Quarto de hospital. Logo depois da curva da parede, o leito alto, branco, e impessoal. Deitada , a velha mulher, muito branca. Olhos grandes fixos. Encolhida em posição fetal, expressão vazia de quem está distante dali. No nariz, o tubo por onde entra o alimento, gosma cor de mostarda…No pescoço o buraco por onde respira… O que resta do corpo, é invadido por tubos… Gulosa, não podia mais sentir o gosto da comida. Andarilha, nunca mais sairia dali. Conversadeira, não podia mais falar. Melhor estivesse morta.
Quando jovem, parecia uma artista de cinema. Rosto exótico, olhos grandes e amendoados, cor de âmbar, dentadura perfeita e branca como as de propaganda de creme dental. Alta, muito branca.Usava às vezes uma saia preta, justa, com uma blusa de organdi branco, mangas bufantes. Igual sem tirar nem por a uma página de revista. Vaidosa, não ficava sem baton. Nem sem de-linear com lápis, as sobrancelhas.
Durante muito tempo foram juntas às matinês de cinema assistir aos musicais da Metro. Corpo bonito,pernas bem torneadas. Crescera vendo-lhe os dedos de unhas longas e vermelhas, a segurar o cigarro com desenvoltura. Óculos ray-ban.
Uma vez passaram uma temporada na casa da avó paterna, escura e sem alegria. Saiam todas as noites até uma pequena leiteria onde a mulher pagava por um copo de vitamina de banana com leite e Nescau para a menina tomar. O liquidificador era novidade e a vitamina, uma delicia sem nome.
É assim que quero lembrá-la, mamãe. Saia preta, blusa branca, salto alto, unha vermelha, matinês. Vitamina de banana.
TRIÁLOGOS DA SOLIDÃO.
Mesmo as minhas alegrias, como são
solitárias às vezes.
A Descoberta do Mundo.
Trialógo da solidão.
Maria Adelaide Câmara, Eugênia Menezes, Glauce Chagas.
Solidão
Só-lhe-dão
Soledad
Sol y edad
Solitude
Solilóquios com ausência
Só lhe dão.
Loneliness!
Só!
E os grilos não cantam?
Não coaxam as rãs?
As almas?
UIVAM!
Eu morro de medo de solidão. Procuro gente, bicho, televisão, livro, até planta serve.
Vem Adelaide me traz várias e criativas versões de solidão e meu medo … arrefece.
Mas a malvada traz almas que uivam e meu medo
CRESCE
E as almas uivam?
São como cães à espreita da presa?
À cata da vida uivam os homens,
Na agonia sombria dos fins de tarde,
Na angústia de ser e de não ser,
Só-lhe-dão porradas,
Solitude, silêncio, solilóquios,
Pungentes e corroídos,
Des-amparo, des-conforto,
Derrelição, vaziez da alma, à Hilst,
Uma mão, pra não mais doer a dor,
Um pedido de socorro,
Cheio de volúpia,
Rompendo um silêncio,
Que tão tarde já se faz!
Viajante solitário da jornada,
Não deixa o verme consumir-te os dias,
Junta-te a tantas Adelaides e Eugênias,
E faz da vida uma trilogia!
Algodão doce.
Glauce Chagas, Diva Simões, Everaldo Soares Júnior.
Todo dia era a mesma lengalenga. Acordava de madrugada, sem sinal de sono. Lágrimas nos olhos, há pouco secos pela insônia, começavam a jorrar feito cachoeira, não naquele ruído ninador que sentira num tempo que não era hoje, ainda pequena. O pai inventara uma vida de aventuras fora de casa e a mãe enlouquecera de amor, literalmente. Sendo a mais velha, tivera que cuidar da manada remanescente da tragédia – meia dúzia pra comer, vestir, morar.
Sentimentos de vizinhos ficaram no faz-de-conta. Tudo era remoído sozinha – as sensações da adolescência, o desejo de ser, elucubrações filosóficas de quem era, a que viera, para onde iria , a imortalidade da alma, Deus. A solidão lhe dera de prêmio uma vida bem primitiva, o que permitia um trânsito livre do ser para o não ser. A juventude lhe chegara como chega a velhice para alguns. Prazeres da vida, não os tivera.
Os irmãos, todos machos, cresceram e deram pro mundo. Nada que a interessasse. Sempre com seu vestidinho caseiro, ia, mesmo assim, à cata da vida, mas era muito pouca vida por ali. Catava, como agulha em palheiro, sensaçãozinha mínima que pudesse lhe preencher corpo e alma, ambos tão vazios. Pessoas pareciam-lhe grotescas, comunicação só consigo mesma. Era de uma estranheza meio rude, estado que quase beirava à loucura, herança materna que não era para se herdar.
Atos religiosos, ela os frequentava por temor a Deus, eram cheios de misticismo e preconceitos, enchendo-lhe ainda mais a cabeça, empanturrada de minhocas e outros bichos mais. Era essa mesma cabeça que, além de compor um corpo doente, estava cheia de culpa pelo seu destino. Nem um parente mais antigo havia pra lhe explicar a razão daquela culpa. Será que a família havia causado algum mal, que ela, naquele final de linha, estava a pagar o que não devia?.
Não havia a quem amar, uma avó, uma tia velha sequer, o vazio. Irmãos haviam ido, sem notícia. Vida de privações, não poderiam ir muito longe… Só restava gente estranha a seu sangue – muitas vezes querendo aproveitar-se de sua solidão e ingenuidade.
Dera de cara com uns, afoitos demais. Até então não conhecera o que o amor lhe poderia dar. Desconfiança de tudo e de todos. Esse era o seu destino, pra isso era que nascera… João lhe havia dito isso mesmo, reclamando da sua situação de homem casado com uma verdadeira traíra. Apanhava todo dia da mulher – barba crescida, calças remendadas e encardidas, dentes estragados, uma figura que metia medo, no caso de ficar sozinha com ele. Maria, assim mesmo, lavou-lhe a roupa, cortou os seus cabelos com um canivete amolado e, com o mesmo, aparou-lhe as unhas. O resto seria fácil-, criaturas desencontradas que se atraíam. Com alguns poucos e profundos fungados, Maria colocou seu corpo a serviço da anti-solidão, a destituir tudo o que tinha de remorso e temor. Também isso aconteceu uma única vez! João, carente, foi com muita sede ao pote e bateu as botas… Novamente Maria só, sem João ou qualquer um outro Mané da vida. A dor no corpo, pela falta do amor que experimentara, as lágrimas aos borbotões. A vida igualzinha, a se repetir sempre. Solidão da alma, agora, transmudado o corpo.
Que sentido para uma vida, que só perdera as cores, ou mesmo que cores nunca tivera fora toda pretoe-branco? Olhava sua imagem no espelho do quarto. Engraçado… Às vezes, o olhar para ela mesma parecia estranho, como se estivesse a mirar os olhos de outra pessoa. Nessas horas, fugia do olhar daquela outra no espelho, parecia um fantasma. Estava rendida, sem forças, sem vontade… Existe algo pior na vida do que não ter vontade? A vontade é que faz a gente se levantar de manhã e seguir o curso da vida.
Solidão é como estar presente e sozinho no próprio enterro. É olhar o próprio corpo que jaz inerte, sem os movimentos da alegria. Porque ela lembrava pouquíssimas alegrias que tivera na vida e, talvez, a maior delas foi apanhar um algodão doce do rapaz que o fazia. Era como apanhar uma nuvem e nela um pedaço do céu.
A vida continuava quase do mesmo jeito. Solidão na alma e agora convertida no corpo, pois João, somente num breve começo, havia anunciado alguma coisa que não sabia o que era, embora o pressentimento lhe trouxesse de longe o sabor diferente do amargo que conhecia.
Maria, embotada nos seus pensamentos, não distinguia o tempo da vida , misturando moça, mulher ou menina. As cores, de qualquer ocasião, eram cinzas ou pardacentas, não sabendo separar o fora e o dentro. A amargura, sentido do seu nome, tomava conta do es-paço quase todo, mas a marca do pressentido cravou o indelével dentro do coração.
Essa mulher passou a ver o branco das nuvens nos flocos de algodão doce. O velho sentimento de dor e sofrimento aliviara, olhava as pessoas com menos desconfiança.
No final da tarde, quando vinha do trabalho, parava na praça perto de casa. O lugar lhe trouxe outras cores, o sol avermelhado sumia atrás dos prédios, espalhando tons violeta pelo céu azulado. Sentada na grama, apoiava as costas cansadas numa árvore frondosa. As crianças faziam alaridos, corriam e se sujavam com areia e a risadagem era grande.
O momento era de devaneios. Olhos fechados e mãos sobre o sexo, viajava nas imagens que se sucediam, encontrara um mundo colorido, cheio de pequenas histórias. Desta vez, viu as florestas em cima de um monte. Não estava sozinha, havia um homem forte que lhe tirava as roupas e despidos rolavam no chão coberto de folhas, entre beijos e abraços. Suspirou fundo e uma sensação diferente estremeceu-lhe o corpo. Nada igual havia acontecido antes, nem mesmo por um instante.
A comoção diminuía devagar. A estranheza do vazio trouxe de volta o infortúnio. Abriu os olhos e enxergou tudo embaçado. Uma dor forte do lado esquerdo, o braço adormecido, a respiração ofegante e o coração batendo lento. A escuridão da noite tomava conta da praça. A imensa solidão era alcançada.
Distraído, o rapaz do algodão doce aproximou-se e perguntou. quer algodão?… responda, responda, por favor, Dona Maria!
Solidão.
Eugênia Menezes, Everaldo Soares Júnior, Maria Adelaide Câmara.
O sentido de distância das crianças é completamente destrambelhado. Nas férias, vamos anualmente a Taperoá, na Paraíba, cidade berço de uma das avós, e tão logo iniciamos a viagem (360 km), começam a perguntar se já está perto. Essa agonia, que dura quatro horas e meia, é de acabar qualquer paciência.
Um dia decidi criar uma metodologia para aliviar nosso juízo, uma vez que o delas está sempre ótimo. Listei todas as cidades pelas quais passamos, fiz um mapinha e dei a cada um uma caneta. Eles próprios iam administrando o percurso, assinalando as cidades ultrapassadas, fazendo de cada uma um desenho ou pintando o nome para depois procurar o significado no dicionário.
Na Paraíba, depois de Campina Grande, a primeira cidade chama-se Soledade. Adiantei que esta é uma palavra espanhola aportuguesada e que significa Solidão.
Esse foi um momento de alvoroço. Todo o interesse pelo jogo foi revigorado, desenharam uma casa que tinha quatro borboletas no frontão, um cachorro uivando, o sino da igreja e o cemitério.
Após Soledade, as cidades se sucedem com rapidez pois são curtas as distâncias entre elas. Numa viagem subseqüente, um escreveu assim. Soledade é onde Taperoá começa a chegar. Soledade tem uma ponte pequena e uma casinha da água (o chafari7j, mas os espanhóis esqueceram de consertar a porta. Valeu Soledade, as bandeiras e o retrato de São João. Na barraca de Soledade não tem tic-tac.
De onde podemos concluir que Solidão é uma cidade com muitos habitantes, uma casinha dágua para fazer lágrimas, mas não precisa chorar pois Taperoá está perto.
Uma saudade me bateu no peito, gostosa, e uma boa risada correu-lhe atrás, ao encontrar esse relato de minha avó. Não perdia o jeito, a danada!
Lembro bem do carro cheio, um calor de derreter o toutiço, estrada que parecia sem fim. Uma impaciência que deitava por terra todo o entusiasmo com que fazíamos, meu irmão e meus primos, os preparativos para as estadas taperoenses, animados como sempre pelas histórias e invenções de nossa avó e pelas brincadeiras meio inconfidentes do tio Juca, irmão de vovó. Naturalmente, sempre acabávamos por nos estranhar. Foi quando vovó concebeu os mapinhas e contou-nos sobre a longínqua Soledade. “Solidão é uma cidade com muitos habitantes, uma casinha d’água para fazer lágrimas, mas não precisa chorar pois Taperoá está perto”, foi assim que ela poeticamente resumiu nossas impressões, que tão bem refletiam seu contagiante amor por sua terra.
Porém, lembro como se fosse hoje que, quando ela chegou ao ponto “não precisa chorar” etc., tio Juca, que mais uma vez nos acompanhava de carona, murmurou entre dentes:
– Essas vovózinhas pensam que o céu está perto. Já, já eu conto a solidão da Soledade.
– Cala a boca Juca.
E eu, toda lampeira, intrometi-me, tentando demonstrar minha valentia e conhecimentos avançados sobre Soledades e Solidões:
– Não vou chorar, minha avó, é que, da última viagem para cá andei conversando com tio Juca e ele me disse muito mais coisas sobre solidão, ou melhor, Soledade. Me mostrou um livro que um tal de Zé Américo escreveu e que ele só chama de Zé e bate na madeira três vezes quando fala, para não dar azar, que tinha uma moça nesse livro chamada Soledade, não era coisa de espanhóis, era gente daqui mesmo, só que muito bonita e deixava os homens babando. Ela me lançou um olhar repentinamente alerta e, com uma cara variando de seu costumeiro sério-cômico para o sério-sério, ela falou:
– Que história é essa, menina. Não dê ouvidos ao que Juca diz.
– Não, vó, ele falava com tanto gosto dessa mulher vinda da seca do sertão que eu vi seus olhos brilharem. Ele falou que Soledade fez até pai brigar com filho. Era a mulher mais bonita da região.
– Juca, ó Juca, você vai me pagar.
– Vovó, será que o tio Juca conheceu mesmo essa mulher? Hem, tio Juca? A cidade, com relógio, bandeira de São João e tudo tem o nome dela. Fiquei sabendo por ele que foi uma homenagem a ela, depois de uma intriga bem grande que terminou com a morte dela.
A avó engasgada e tossindo encerrou o assunto dizendo:
– Quando crescer, você vai ler esse livro com o nome de A Bagaceira e entender tintim por tintim dessa história, menina.
E deu mesmo o assunto por terminado. Senti, meio espantada, que não devia arriscar mais perguntas. Ainda ameacei abrir a boca, porém a vó estava a falar, quase em cochicho com meu avô, alguma coisa que não consegui entender, mas o fez parar mais que depressa no acostamento e correr para o meio do mato. Logo depois ele voltou com um pedacinho de cipó, ou de toco, não sei bem, e o entregou a minha avó. Ela o segurou como se fosse um bastão mágico, seu rosto se iluminou num sorriso. Virando
se para nós, disse com a firmeza de uma ordem. “Tive uma idéia, enquanto não chega
mos a Taperoá, vamos fazer a brincadeira de saudar e esconder o bastão.”
– Que brincadeira é essa, vó?
– Lá vem essa com brincadeiras sem graça, tão pensando que os meninos são bestinhas. Olhe turma, Soledade era tão boazuda que quando ela chegou …o que foi?
– Seu impertinente é pra ficar calado.
– Vou explicar. Eu entrego a um de vocês o bastãozinho e o escolhido, ou escolhida vai tratar de escondê-lo…
– Mas aqui nesse aperto, gritou Gustavo?
– Sim, senhor. Tratem de botar a cabeça para funcionar e sem movimentações exageradas, pois seu avô está dirigindo. Enquanto o bastão é escondido, todos os outros mantêm os olhos bem fechados até que o escondedor cumpra sua missão e dê a ordem de procura-bastão. O escondedor, então, vai dizendo quem está quente, quem está frio. Aquele que achar segura forte o bastãozinho e grita bem forte. Achei! Cruz-Credo! Pé de pato! Mangalô três vezes!.
Ela nos deu mais algumas explicações sobre prendas a pagar se alguém abrisse os olhos fora de hora, e, começamos a jogar aquela versão esquisita de “Chicotinho queimado”. Curiosamente, até chegarmos em Taperoá, todos tivemos tempo de esconder, de achar e de gritar aquelas misteriosas palavras… menos tio Juca que cantarolava:
– Pelas brincadeiras vamos todos tão contentes e a estrada afora vão os inocentezinhos querendo saber da lindona da Soledade.
– Juca você vai me pagar!
À noite, já ceados, devidamente acampados, de cortinado e tudo – as muriçocas não eram de brincadeira!- nossa avó nos desejou boa-noite e desceu. Os meninos pegaram logo no sono e eu fiquei matutando sobre os acontecidos… Senti sede. Pé ante pé abri a porta e fui descendo a escada, Ouvi um zunzum de vozes uma meio abusada, de minha avó, e outra, gaiata, do tio Juca. Parei sem querer-querendo, bem quieta.
– Agora sim, você com essas caraminholas só falta me chamar de sedutor de criancinhas, não acha que está levando muito a sério “Chapeuzinho Vermelho”?, e aquela revista que você bisbilhotou na minha bolsa, tem mulher nua, sim, mas não é Soledade, a sertaneja era morena, queimada do sol. A que apareceu nas fotos coloridas uma loura, deve ser uma gringa muito tesuda.
– Olha o que fala, seu lingua suja!
– Bobagem, você está preocupada mesmo é com a inocência da garotada. Quer saber mais? Se foram eles que reviraram minha bagagem atrás de Soledade! Não sei e nem sou dedo duro.
– Cínico! Safado!
– Ah é, então vamos cantar. Pela estrada afora iam os netinhos e as vovozinhas tão contentes, quando o tio lobo apareceu atrás da moita, fazendo o que! Ninguém sabe? pra contar safadezas aos pequenininhos!
– Debochado! você não podia ser um pouco mais discreto? Ainda por cima insistindo no caipora…
– Todo mundo sabe, Soledade era mesmo uma mulher muito gostosa!
– Êpa, são lembranças, olhe o respeito, Seu Cabra!!!
– O sono me pegou, não consegui ouvir mais nada. Até a sede tinha passado. Voltei e peguei num sono só. Muitos anos depois consegui entender. minha avó, supersticiosa como eu não imaginava que fosse, tratara de, prudentemente, esconjurar de nós qualquer efeito urubuzento daquele autor paraibano e daquele livro
que acabei não lendo – sobre, sobre… sobre bagaço de cana secando e também de deixar para quando estivéssemos mais velhos as estripulias amorosas de nosso tio.
Quanto às Soledades, estas ficaram para trás. A solidão? Só se for como uma saudade, saudade das férias em Taperoá.
A solidão dói.
Everaldo Soares Júnior, Maria Adelaide, Diva Simões.
– Você disse que estava sozinho, mas, na verdade, havia uma multidão em torno de você.
– Mulher, eu vou ter que contar tudo de novo?
– Não é nada disso, ouvi muito bem o que você disse, só que, numa praça com milhares de pessoas, véspera de Ano Novo, música, bebida e muitas mulheres, como você gosta, essa história do eu-sozinho não cola.
– Nada disso, avisei que vinha aqui e não queria briga.
– Não estou brigando, pode falar à vontade.
– Então, de uma vez por todas entenda. Fiquei emocionado com a passagem do ano, tantas pessoas alegres, bonitas e eu sozinho sem conseguir falar com ninguém. Foi neste momento que uma garota chegou e me perguntou quanto tempo faltava para a meia-noite. Mostrei o relógio e ela sorriu. Então eu disse que dava tempo, ainda, para tomar o último drinque do ano.
– Caro que ela aceitou, não, seu enxerido?
– Foi legal, estávamos sentados na grama e nem me dei conta de que um perigo acontecia. Ficamos olhando os fogos de artifício, bebendo champanhe deliciosa e o Eu
sozinho já havia ido para bem longe.
– Vamos, me conte logo tudo de uma vez.
– Calma, mulher da cabeça dura. Não é nada do que você está pensando, foi só muita alegria, abraços e cumprimentos de feliz-ano-novo para todo mundo. Gente muito boa aquela da praça. Com ela foi apenas um abraço e um beijo bem prolongado. Mas foi justamente nesse momento que senti uma comichão no traseiro. Entusiasmado, nem liguei.
– Bem feito!
– Não teve nada demais, depois de a gomas garrafas de champanhe tudo era alegria e não sentia nada. Somente quando fui para o carro é que a gatinha me perguntou. “Você é sozinho?” Mais ou menos, respondi, precisamos de mais tempo para conversar com calma.
– Cabra safado!
– Ela me deu o número do telefone e disse que na primeira noite do ano aguardava a minha chamada. Nos despedimos e fui para o estacionamento. Antes de entrar no carro resolvi ver o que era aquela comichão, passei a mão no traseiro e encontrei inúmeras formigas que fizeram um estrago na minha bunda. Tenho alergia e você imagine que tudo piorou. O que posso dizer é como fala a música de Roberto Carlos. “Se sento no meu carro a solidão me dói” e a comichão me corrói ..
– Eu acho é pouco, devia ter picado a solidão, cutucado o solitário e enchido de ferroadas seu indistinto dianteiro, pelo menos assim o indistinto..
– Que é isso mulher?, in in indis indistinto o quê? Como é que é?
– Isso mesmo, foi o que você ouviu. IN-DISTIN-TO!. Vai ver que você tava era querendo usar a receita dos parintintis para se tornar mais sedutor para a dita cujinha, seu traíra devasso…
– Oxe!, agora mais essa, espera aí, agora você já está extrapolando, que história é essa?
– Não se lembra não, seu nojento, como você ficou todo animado quando o Carlão nos contou o costume desses índios de enfiar o senhor pinto-calvo na toca de umas formigas pretas para que o indistinto dianteiro dobrasse de volume e ficasse mais apetecível e apetitoso, seu sem-vergonha. Foi bem isso que você quis umas bem aplicadas ferroadas para se mostrar. E agora me vem com esse papo besta de alergias, de solitário no meio do redemoinho…
– Você está sendo cruel! Quer ver a minha bunda em que estado ficou?
– Eu quero lá ver sua bunda, canalha! Chama aquelazinha para cuidar do estrago que as formigas fizeram por mim.
– Se é assim, acho que aquela chamada que eu prometi dar na primeira noite do ano vai ser feita.
– Pois então, passe muito bem. Você, ela e a sua bunda nojenta.
À noite, a chamada foi feita. O telefone tocou uma, duas três, quatro vezes… E ele, sentado de lado na poltrona, por causa da dor das ferroadas, se viu de fato sozinho.
Sabor de manga verde.
Mônica Raposo Andrade, Zélia Alves, Maria Adelaide Câmara..
A menina, quando criança, costumava brincar sozinha com muita tranquilidade, passando horas esquecida de todos. Com grande habilidade e concentração construía seus jogos, brinquedos e gostava também de livros de historia com figuras. Tinha irmãos pouco maiores e primos que vinham sempre brincar no longo e estreito quintal, repleto de mangueiras, na casa em que morava. Nem sempre podia acompanhá-los nas brincadeiras de meninos e na disputa pelas mangas maduras caídas lá no fundo do quintal. Era difícil para a garota franzina correr e competir com os mais fortes e por isso se contentava com mangas quase maduras e até mesmo ainda verdes. Descobriu depois que passara a gostar muito mais das mangas verdes que das maduras, o que, no intimo, a fazia feliz.
Quando cresceu, mostrou gosto pela leitura e passava horas a ler, esquecida de todos. Muito lhe interessava aprender com as grandes obras literárias, pois os livros a fascinavam tanto quanto os familiares e amigos que a cercavam. Logo entendeu que a solidão poderia tornar-se uma grande companheira na sua viagem pelo mundo literário. Gostaria de ler muito mais do que o tempo lhe permitia e contava os dias, meses e anos que teria disponível para ler as obras importantes de que falavam as pessoas cultas. Disseram-lhe, certa vez, ser ela uma jovem solitária, mas, no íntimo, se achava contente com o estilo de vida que todos rejeitavam, como rejeitavam a `manga verde’.
Até que um dia conheceu Solidonio numa biblioteca, um jovem médico. Ele sentia-se numa enorme solidão. Não que realmente estivesse só, vivia com seus pais e irmãos, primos, amigos e muitos conhecidos. Por que tanto retraimento, desconfiança e tristeza? Seu sentimento de solidão, provavelmente, estaria ligado a algo vivido ou não, mas de sentimentos interiores e sofrimentos esquecidos, difíceis de serem relembrados. Esquecia como defesa, para livrar-se deles e não sofrer. Esperança vã, livra-se, aparentemente, desses e recebe outros que sutilmente invadem sua vida, tirando-lhe a possibilidade de vencer as dificuldades. Escondia-se dos outros e de si mesmo. Vivia? Simulacro de vida. Passava o tempo, num espaço conturbado de tantas emoções contraditórias. Isolava-se e distanciava-se de todos. Seria? Queria esconder-se? Ou para ser notado por sua ausência? Sua contradição. Teve sorte, foi nota-do. Ela apareceu, diferente dele, para lhe trazer contato com a mulher. A força dessa ligação foi a energia que lhe faltava. Logo se apaixonaram. Em pouco tempo estavam casados.
Oportunidade de trabalho lhes foi oferecida no município de Solidão, para onde se transferiram e onde nasceu a filha, batizada como o nome de Soledade, em homenagem ao pai. Descobriu depois que Solidão, cidade longe e esquecida nos confins do sertão pernambucano, teria sido a ‘manga verde’ da sua vida. Pois, além da vida tranquila, do prestigio, do bom caráter e ingenuidade bondosa das pessoas simples e da solidariedade humana que ali encontraram, fizeram fortuna com o trabalho que lhes foi oferecido. E lá fizeram grandes amizades, deixando, pois, de serem pessoas solitárias, no sentido mais corrente da palavra, porém, preservando, na intimidade, o que ambos cultivavam como um bem precioso. a liberdade de se afastarem, próximos como eram um do outro, de se absorverem na solidão de suas meditações, de suas leituras e das maravilhosas sonatas para violoncelo e piano de Brahms, que ouviam com infinito prazer.
Desde pequenina, Soledade demonstrava a mesma necessidade dos momentos de solidão que pressentia tão caros aos seus pais. Tinha seus recantos prediletos, gostava de espiar as formigas, as lagartixas, correr ao sabor e contra o vento, escutar os ruídos do crepúsculo, o canto das cigarras, o grasnar dos gansos do vizinho, que bem a tinham feito desabalar para casa, certa vez, aos prantos e com o joelho sangrando. Na perseguição, um dos gansos se aproximara o suficiente e lhe arrancara numa bicada certeira uma verruga de estimação. À noite, contava suas aventuras e descobertas aos pais que a escutavam atentos. O momento mais esperado, entretanto, era o dos contos maravilhosos que ora seu pai, ora sua mãe lia para ela, antes que se deixasse cair no sono e se entregasse às peripécias do sonho.
Tempo depois, ao completar quinze anos, Soledade demonstrava gosto pela literatura. Na escola revelava grande aptidão para escrever e tudo fazia crer que sua vocação era ser escritora, pois àquela altura da sua juventude já conhecia a fundo os grandes escritores. desde Cervantes, passando pelos clássicos franceses, ingleses, americanos, chegando a fazer ensaios críticos sobre a obra de James Joyce. Ela herdara o temperamento solitário dos pais e era uma jovem feliz. No dia do seu aniversario recebeu de presente de sua mãe um livro de um famoso escritor peruano, Cartas a um jovem escritor, que contava, logo no início, a Parábola da solitária. uma metáfora sobre a lombriga gigante e devoradora que se instalava no corpo e na alma do escritor, sugando-lhe toda energia e excluindo-o do mundo real. Mesmo assim, Soledade não desistiu da sua vocação de futura escritora e pensou consigo. ora, esta será a `manga verde’ da minha vida, assim como o foi de minha mãe.
Em sua curta vida participara dos grêmios literários da escola, ajudava as colegas nas redações, era sempre convidada a participar do jornalzinho da turma.
Sim, escrevia desde sempre um querido diário trancado a sete chaves. Ah!, e as cartas da Estelita. Esse foi um trabalho profissional. Ela era uma empregada da casa, de pouquíssimas letras, que tinha um xodó por um caixeiro viajante que tinha a mania de lhe mandar bilhetes de amor. Estelita, em palcos de aranha não só para ler como para responder, recorreu a Soledade. A menina começou então a inventar sobre uma vida bem diferente da dela, a descobrir em si coisas desconhecidas. Lá pras tantas ninguém sabia quem dizia o quê. Mas as cartas encantavam Estelita e muito mais Soledade, não só pelo trabalho como pela paga que o acompanhava. um montão de brigadeiros. O tempo foi passando e a intensidade das cartas foi caminhando no sentido contrário ao vigor amoroso do viajante que, de repente deixou de escrever. Estelita se desesperou, não havia consolo. Por fim tomou uma tremenda carraspana e Soledade e sua mãe a encontraram estendida a fio comprido na cozinha. Curara-se e Soledade interrompeu seu primeiro escrito remunerado.
Mas que sabia Soledade sobre ser escritora? O que aprendeu disso tudo? Que intuiu, aos quinze anos, da “manga verde” de sua mãe, ou do verme parasita que habita um escritor fustigando-lhe as entranhas e sendo por ele cultivado com fervor como um símbolo de amor à ficção? Afinal, no episódio Estelita, quem fora ela? Narradora, protagonista, apenas uma ghost-write A vida o diria. Diria?
PARÓDIAS MACHADIANAS.
Um dos ofícios do homem é fechar e apertar
muito os olhos a ver se continua pela noite velha
o sonho truncado da noite moça.
Machado de Assis (Dom Casmurro).
A causa secreta.
Teresa Sales.
Amoça dormia no sofá da sala, enquanto o rapaz, junto com à mãe, acudia à agonia da mor-te do pai. Um primo que estava ali, como tantos outros parentes, chamou a moça. acorde que seu pai está morrendo. Ela chegou em tempo de ver alguém que acendia uma vela e viu a morte chegando em três longos suspiros finais.
O dia despontava ainda incerto em um clarão nas nuvens escuras do céu, aparecendo pela janela aberta do quarto. Não houve choro. Somente aquela vela acesa a indicar o mistério insondável da morte. A mãe foi buscar um lençol de linho branco com o qual cobriu o corpo já sem vida. Uma brisa entrava pela janela. Todos foram se retirando, um a um, sem palavras. A moça voltou ao sofá. Os outros conversavam baixo e ela não ouvia o murmúrio, ou não queria ouvir. Ouvia os vestígios de sua memória.
Da menina que tinha uma tristeza nos olhos que a ninguém ocultava. Era aplicada nos estudos, gostava de brincar de boneca, tinha suas amigas a quem freqüentava a casa. Chamava a atenção das amiguinhas que nunca ela chamasse a nenhuma delas para brincar em sua casa.
Era a melhor casa do bairro, com um belo jardim de rosas cuidadas pelas mãos delicadas da mãe. A menina às vezes tentava se juntar à mãe para ajudá-la na poda de alguma roseira, ajudar na rega. “Não, menina, não precisa, vá cuidar de seus estudos que seu pai não vai querer lhe ver com as mãos sujas de terra.”
A menina tremia por dentro. Corria à rua, á casa de sua melhor amiga. Levava a boneca, uma de louça e cabelos louros encaracolados que acabara de ganhar do pai, trazida da melhor loja francesa, que ninguém no bairro tinha igual. Que a hora do jantar não chegasse nunca. As visitas, a apresentação de alguma peça de pia-no, o cheiro do charuto, os elogios à filha bonita e inteligente. Sentaria no colo do pai, tudo em público, uma farsa de tortura para ela e prazer para ele, onipotente, poderoso, reconhecido por todos como o grande juiz de direito da cidade. Uma família perfeita.
Seu refúgio era a fantasia do mundo das bonecas, das histórias de Trancoso que ouvia da cozinheira preparando o almoço, ela sentada num banquinho da cozinha.
Era uma vez um rei. Havia morrido a rainha tísica e o rei mandou avisar a todas as moças de seu reino que se apresentassem para experimentar a aliança de sua finada mulher. Aquela em quem coubesse a aliança no dedo anular esquerdo, com essa ele casaria. O rei estava muito triste porque em nenhuma coube aquela fina jóia. Até que um dia, estando a brincar no quarto a princesa, pega distraidamente a aliança de sua mãe, que se encaixa como luva em seu dedo. O rei, que passava nos aposentos da filha nesse preciso momento, assiste à cena assustado e não tem outro jeito senão anunciar que em breve estará marcando a festa do seu casamento com a princesa. Para fugir do pai, a princesa, com a ajuda de sua fiel mucama, disfarça-se vestida em uma roupa feita toda de madeira e sai pelo mundo, carregando em seu dedo a aliança da maldição. Maria de Pau.
Essa era a história que a menina mais gostava de ouvir. A princesa se livrara do jugo do pai. Trabalhava arduamente como empregada morando em um galinheiro de um outro reino, onde o príncipe contrai uma doença incurável e vai morrer. Maria de Pau, cuidando de galinhas e porcos, comendo restos da mesa do palácio, escorraçada por todos, consegue garantir às serviçais do palácio que se o príncipe comer um bolo que só ela sabe fazer, ele ficará curado. Dentro do bolo, Maria de Pau coloca a aliança. O príncipe, inapetente e enjoado, aceita comer um pedaço do bolo. Repete e repete mais até que a faca que corta o bolo toca em algo duro e o príncipe descobre a aliança. Quer saber quem fez o bolo, mas as serviçais não podem contar o segredo. O príncipe fica prostrado de novo. O rei manda então fazer uma grande festa para que todas as moças do reino venham experimentar aquela aliança. Naquela noite Maria de Pau veste seu melhor vestido que trouxera escondido dentro da roupa de madeira e a história termina como todas as outras. casam-se e vivem felizes para sempre.
O murmúrio da conversa na sala embala os pensamentos da moça, que se sente alegre como nunca se sentira antes na vida. Estava livre. Pela janela da sala olha para fora e vê que o sol agora já apareceu em todo o seu esplendor, iluminando as folhas de uma frondosa palmeira ainda molhada pelo orvalho da madrugada. Os outros cuidarão das providências do enterro. Ela terá que fazer apenas um derradeiro esforço, agora não mais para parecer alegre e sim para parecer triste. Será seu último disfarce. Depois, qual um ritual de passagem, jogará fora as bonecas caras e tudo o mais que lhe possa lembrar as marcas de uma servidão escondida do mundo e pactuada pela mãe.
Recife, 2006.
A missa do galo.
Eugênia Menezes.
Ao receber meu pedido de casamento, minha mãe – que tinha sido contemplada, entre as muitas benesses anunciadas pelo pretendente, com o convite para incorporar-se, entre os meus parcos pertences, à mudança – aconselhou-me. Melhor partido não poderia haver. Homem bem dotado de posses, filhos já casados, bom para a primeira mulher. Você deve honrar-se dessa distinção, tratar de relembrar os deveres que sempre lhe ensinei. A tarefa é pesada; a responsabilidade grande como a casa que lhe vai dar; os afazeres, muitos. Indo junto, continuo orientando seus passos. Isso de idade é besteira, é ate bom, você vai ter de uma só vez marido e pai, que nunca teve, Deus o guarde, já que o tirou tão cedo. E mais. na sua idade, passados os vinte e cinco, não se pode ser exigente.
Eu olhava perplexa para aquele homem cerimonioso à minha frente, sapatos brilhantes e relógio de algibeira. Nada tinha dos personagens que povoavam minha mente, egressos dos romances que lia então, ou fruto de minha imaginação sonhadora. Ao sentir que se aproximava o momento de resposta à pergunta formal, senti a boca seca e as mãos suadas, ouvindo uma palavra esvaindo-se entre as minhas tão diversas expectativas. A este, seguiram-se inúmeros pálidos sim, sabiamente administrados por minha mãe, que reforçava, a cada minuto, os direitos do posseiro, a léguas distante do pai suprimido e do amante buscado.
O alvoroço que me acometeu com a notícia não era, de todo, descabido. Com a autoridade de chefe de família, a respeitabilidade das cãs e o aval de sua aparentemente irrepreensível conduta, meu marido Chiquinho Menezes anunciou-me, sem consulta prévia, a vinda de um parente do interior para nossa casa. Pelo tempo necessário, a estudar preparatórios.
A inclusão de um novo personagem naquele universo insípido e alheio a mim me excitava. Dezessete anos, um pouco mais que a idade de meus filhos, se os tivesse. Talvez exorcizassem o tédio infindável, povoassem o deserto interior que me queima. Apaziguariam a chaga causada pelo desrespeito das noites em que meu senhor, a pretexto de ir ao teatro e contando com a postura complacente de minha mãe, enfurnava-se na casa daquela mulher vulgar cujo marido a havia abandonado. Ironias do destino. Nesses momentos, eu só contava com a compreensão de Amara e Minervina, as escravas que acolhiam minha revolta inicial, depois desprezo, rindo, condescendentes, enquanto aprontávamos o quarto de hospedes.
À chegada, nosso hospede beijou-me respeitosa-mente a mão, a sua macia e tépida, cujos dedos registrei depois serem afilados e leves. Cheio de vida, compartilhava tudo, trazendo para nossa casa o mundo. Observava, disfarçada, seus gostos e gestos, registrando suas preferências para satisfaze-las, silente. Exigia capricho no engomado das roupas que ressaltavam seu porte juvenil onde não faltava, despontando atrás da timidez natural da idade, um toque de ousadia.
Senti-me ansiar, certa noite, por uma conversa a sós com o visitante. Sabia-o lendo Os Três Mosqueteiros, à espera da hora de acordar o vizinho para irem juntos à Missa do Galo, acontecimento que o tinha retido na capital. Muito tempo levei a criar coragem para arriscar minha ilibada reputação, e, na ausência do dono da casa, dirigir-me à sala da frente, fazendo-me insone ou récem-acordada. Estava consciente. por despretensioso que fosse meu gesto poderia despir-me do manto de santa que me tinham imposto, imagem que eu reforçava, gratificada, com minha postura cotidiana. Nada de intimidades, não dê chance a falatórios. Afinal de contas, é homem, dizia minha mãe, que dormia naquele instante.
Naquele dia, eu tinha o deliberado propósito de deixar entrever a outra face de meus quarenta anos, o eu maior, por sabê-lo incontido dentro de mim. Embora aparentassem repousar displicentemente sobre meu corpo, meus trajes tinham sido alvo de cuidadosa escolha. Sobre a cama de casal jaziam peças do enxoval experimentadas diante do espelho, antes que me decidisse pelo roupão branco, sem maiores atrativos mas ainda intocado, e as chinelinhas de alcova. Cuidadosamente cruzei as pernas, analisando-me com olhar crítico. Sem saber o que buscava, dirigi-me à sala. Tinha novamente as mãos suadas. Ao perguntar-lhe se temia as almas do outro mundo – porque levantou surpreso os olhos do livro – respondeu, fitando-me mansamente. `Não quando são belas assim, senhora. Ao ouvir passos, apenas aguardei, ansioso. Eu a julgava dormindo.
A resposta provocou em mim uma inquietação peculiar. Senti-me impelida a demovê-lo da missa, mas tinha dificuldade em articular as idéias, dominada por uma ânsia de movimento. Como se de repente eu crias-se asas. Enquanto se desatavam meus gestos, o interlocutor demonstrava visível interesse no discreto jogo que se estabelecia pouco a pouco e que prometia estender-se por muitas eras. Inquietos, falávamos de tudo, próximos, quase sussurrando, o livro aberto abandona-do sobre a mesa. E A Moreninha, já leu? Embora eu começasse, a seu pedido e entusiasmada, a resgatar em mim a menina-moça que fui, logo chegamos ao presente. Eu não buscava mais o filho que não tive. Ríamos juntos, os dentes reluzindo. Fechei momentaneamente os olhos, vendo-o, num lampejo, cavalgando o cavalo magro e alado de D’ Artagnan, levando-me atrelada nos seus flancos. Ao abri-los, surpreendi-o embebido em meu rosto, meus gestos, a ouvir-me com uma espécie de encantamento. Sentia-me jovem e linda, lindíssima.
O tempo. A hora. O silêncio. O silêncio quebrado pelo vizinho que reclamava, além dos postigos fecha-dos, o compromisso com a Missa do Galo.
Missa do Galo.
Everaldo Soares Júnior.
Eu e minha irmã éramos escravas na casa de Seu Menezes, na rua do Senado. Sou testemunha aviva da história. Via tudo que se passava na casa. Dona Conceição só fazia brigar com a gente e se mostrar na hora que o patrão ia chegar.
– Isaura, vamos logo com isso, passa a manhã toda para lavar o banheiro? Sua irmã já varreu o quintal e acabou de fazer o almoço.
– Vou logo, Dona Conceição, é que fui ajudar o Seu Nogueirinha a tirar o pó e as traças dos livros, e foi muito trabalho – respondia minha irmã.
– Vamos depressa, quando o Menezes chegar quero tudo pronto para a gente almoçar em paz.
– Sente aqui, minha filha, descanse um pouco antes da refeição, você fica o dia todo para cima e para baixo, isso cansa muito.
– Ora, Dona Genoveva, fico cansada, mas se eu não cuidar da arrumação nada funciona e a senhora, minha mãe, pare com o tricô que o Menezes já vai chegar.
Naquele dia, na hora da mesa, me dei conta do que estava se passando. Com a terrina de feijão nas mãos,entendi tudo. Seu Nogueirinha disse. hoje vou com o vizinho assistir a missa do galo, quero ver o Natal do Rio de Janeiro. Soube que é muito bonito! Na roça essas coisas não têm graça, a missa só demora dez minutos.
Vi os olhos de Dona Conceição brilharem, o sorriso sair de seus lábios tomando conta do rosto. Do outro lado da mesa, o estudante de Mangaratiba estremeceu e, tossindo, disfarçou a emoção, mas eu estava atenta.
Antes de sair, o patrão foi tomar água na cozinha e passou a mão na minha bunda. Sinal de que mais tarde iria ao meu quarto, embora todo mundo pensasse que quando ele dizia que ia ao teatro, iria para a casa daquela brancosa da rua do Ouvidor, mas não, vinha mesmo é para a minha cama, que era boa e doce!
A casa era só silêncio, todos pareciam dormir. Aí abri a porta do quarto e ele entrou. O patrãozinho estava muito fogoso, me incendiando da cabeça aos pés. Quase sem fôlego, ficamos descansando, tudo nos conformes. Foi quando ouvimos passos na sala da frente que dava para a porta de entrada da casa. Seu Menezes perguntou. O que é isso?
– Psss… fale baixo! – respondi.
Sem fazer ruído, nos vestimos depressa. Fomos pra junto da janela espiar. O lampião com uma chama fraca iluminava a sala. O livro do Seu. Nogueira no chão. Em cima da cadeira, as roupas do rapaz e o desabillé violeta. Senti a mão do patrão segurar com força a minha cintura. Ele olhou pela fresta da janela, trincando os dentes sussurrou. Cadela, filho da puta. Psss… eles podem nos ver, eu disse. Olhei para o lado esquerdo e vi os dois agarrados em cima do sofá de veludo e ainda ouvi alguns suspiros. Amparei a cabeça do Seu Menezes no peito e com as mãos o agarrei firme. Na mesma hora ouviu
se uma batida forte na porta de entrada e em seguida um chamado:
– Missa do Galo! Vamos?
– Rapidamente, Dona Conceição foi para trás da cortina, o conquistador correu para a porta e disse:
– Carlitos, estou indo, não demoro mais que dois minutos.
Despediu-se de sua amada com beijos e ela foi para seus aposentos. Ele apanhou o livro do chão e colocou-oo sobre a mesa. Ajeitou a camisa, pegou o gorro , abriu a porta e saiu com o amigo.
Voltamos para o quarto, sentei o homem na cama, enxuguei o suor do seu rosto. Ele continuava a dizer: Cadela, filho da puta, vão me pagar.
A raiva era grande, abraçada com ele, senti seu coração bater ligeiro. Respirando com dificuldade, ele falou. estou com dor no peito, vá na praça da esquina chamar Sebastião, diga a ele para vir depressa com o coche grande. Não estou bem e vou para o hospital da Santa Casa atrás do Doutor Ramos.
Saí correndo para cumprir com o socorro. Quando cheguei com o cocheiro, colocamos o patrão deitado no banco de trás do carro. Fiquei rezando, mas não agüentei e fui acordar Isaura.
– Irmãzinha, desperta, quero falar com você. Levantou-se ligeiro e ainda meio dormindo perguntou:
– O que aconteceu?
Contei tudo para ela o que já sabia e o que não sabia.
– Alzira, eu estava sonhando com o Raimundo e você vem com essas confusões, faz tempo que lhe aviso.
– Que nada , vai dar tudo certo.
Com a cara de choro, ela disse:
– Tenho pensado muito na minha vida, quando será que Raimundo vai me tirar daqui? Afinal ele já está alforriado.
Tive pena dela e contei para consolar a sua tristeza.
– Precisa não, Seu. Menezes vai nos livrar da escravidão. Aí você vai morar com seu amor que lhe tirou os tampos. Soube que ele está trabalhando numa padaria, em São Cristóvão. Mas eu vou ficar aqui, o patrãozinho precisa de mim.
De manhã, na hora do café, estavam todos preocupados porque o Seu. Menezes não dormira em casa. E eu calada, na minha. Então Sebastião chegou com um recado dele.
Ele está no hospital, com Doutor Ramos, mas não quer receber a visita de ninguém. Falou também que o Seu Nogueira saísse da sua casa imediatamente.
As duas mulheres foram para o quarto do oratório. Sebastião olhou para mim e falou.
É coisa do coração, mas o patrãozinho vai ficar bom.
Corri para a cozinha e desabafei:
– Irmãzinha, agora que você sabe de tudo, me diga uma coisa, prá quem aquelas brancas rezam tanto?
Bendita missa do galo!.
Glauce Chagas.
Vejam como as aparências enganam… Era uma mulher tida como santa por aguentar os constantes esquecimentos e as traições do marido, um velho e atarracado escrivão de pequena cidade. A título de ir todas as noites ao teatro, o próprio deixava acumularem-se peças à suave e conformada Ceição. Uma família e tanto! Nenhum filho. Mãe, caladinha, não tendo onde cair dura, teve como única opção morar na casa do genro faltoso. Para os serviços da casa faziam uso de empregados, mais escravos, de quem usufruíam, baratos, lautos almoços e doces domésticos. A casa, um brinco! Ternos de brim brancos, e bem engomados, sem falar nos lençóis de linho alvejados e cheirosos, a custa de quem?.
Nesse mundinho – logo onde!- Diocleciano, da roça, fora esbarrar para fazer os preparatórios ao Seminário. A verdadeira escola ia-se divisando mais claramente ali. Dezessete anos mal experimentados. Tinha que ser assim – se impunha um fato. ter nascido numa família sem recursos, para não dizer miserável.
A estada com os tios se alongava por meses. E dera para ir-se revelando um ser meio parasita, tímido, meti-do a leitor intelectualizado de romancezinhos de época. Experiência com mulheres, nenhuma.
Chegara a época das festas de fim de ano e o sobrinho já teria direito a férias dos estudos, mas esperaria o Natal, para provar do peru gordo da família, ir à famosa Missa do Galo e, quem sabe, colar-se com alguma carola sapeca na festinha da praça da igreja.
À véspera do nascimento de Jesus, o escrivão, não desprezando o ordinário, tinha ido dar seus passeinhos; a velha dormia em sono leve; as escravas, recolhidas aos míseros cômodos de fundos. E Ceição, a vaguear, como costumam mulheres cujos maridos saltitam além das cercas domésticas.
Em pleno clima natalino, a situação se afigurava um pecado para ele. Diocleciano sentia latejar os interstícios de sua pele e veias, sinais dos hormônios mal vi-vidos. À espera das badaladas que o separavam da missa e com o avanço das horas, conseguiu ver, enxergar mesmo, e sentir, pela primeira vez, a santa Conceição. Textura branca, própria de um bom trato e da ausência de sol, que não tomava, por pura indolência. Suave, pele aveludada, lânguida, e outros mais atributos, nesse mesmo tom, tudo era ela. No pequeno recinto, única sala, ele, a ler um romance de aventuras românticas de um tal de Dumas e ela, cuidando de, sutil e astutamente , interromper-lhe a leitura. A doce e astuta Ceição via, com todas as letras, uma oportunidade ímpar de ir às forras com o seu marido, o escrivão que lhe traía. Um roupão escarlate deixava entrever seios esbeltos de três décadas vividas quase virginalmente. O traje, atacado por um descuidado laço, presenteava aos olhos do moço, pernas rechonchudas, alvas, em contraste com aquele escarlate. Já não se ouviam as badaladas das horas, tal-vez uma sim outra não, cada vez mais vagas. Esperava que algo acontecesse, para não perder aquele momento raro – a missa do galo, o escarlate, a brancura da pele, Conceição…
Do lado da missa, o padre atrasara, soube-se de-pois – tinha ido dar extrema-unção a um homem desconhecido, desfigurado, que estava à morte, vítima de homicídio, à porta de um bordel safado. Quem já se viu, na véspera de Natal, acontecerem crimes… Pecados por todo lado, num tempo santo… Era bem merecido um castigo divino.
Do lado de cá, Diocleciano deixou que Conceição se interpusesse entre ele, os cavaleiros do livro, a missa, o galo, o padre e viu-a como a sua padroeira, aquela que lhe ia sugar toda a seiva acumulada. Tocava-a com total ardor, quando alguém – pessoa inconveniente! – bate à porta, para avisá-la da morte do marido.
Ainda se ouviam, longinquamente, ó surdos e distraídos amantes, os sinos da igreja badalarem alegre-mente, anunciando o final da Missa do Galo. Um convite para os fiéis se retirarem… à sua ceia natalina.
O espelho.
Diva Simões.
O sol ainda esquentava as calçadas da rua quando as cinco meninas se encontravam para brincar. Todos os dias podiam vê-las já tomadas banho, correndo da mesa do almoço para saciar a incansável vontade de correr, pular e apresentar suas bonecas.
Quem olhasse de longe dificilmente saberia quem era quem. Tinham entre nove e onze anos, mais ou me-nos a mesma altura, o corpo rechonchudo dessa fase da infância e cabelos lisos e compridos, penteados para o lado direito.
Também levavam vidas semelhantes. Estudavam no mesmo colégio, tinham entre um e dois irmãos mais novos e os pais eram funcionários públicos. As mães não trabalhavam. Residiam naquela rua desde que nasceram. As famílias eram amigas e a amizade delas estreitava ainda mais os laços.
As semelhanças se estendiam pelos quartos cor-de-rosa que foram decorados quase da mesma maneira, tudo o que uma ganhava, as outras também queriam. Se a cortina de uma fosse branca com laços amarrados nas pontas, as outras quatro queriam igual. Observando os quartos não se saberia dizer de quem era cada um.
Um dia, porém, uma delas ganhou um espelho enorme da madrinha, quase o dobro de sua altura. Foi colocado de frente para a cama e pareceu deixar o quarto pequeno mais amplo, bonito e iluminado. As amigas logo quiseram um espelho igual, mas os pais, ou por achar que seria muita vaidade para uma menina tão pequena ou pelo preço do novo luxo, não compraram a peça decorativa para suas filhas. De forma que, agora, uma delas se distinguia das demais. tinha um espelho.
No início, todas iam à casa da amiga para brincar com as suas imagens. Penteavam os cabelos, arrumavam as roupas em seus corpos ainda desengonçados, passavam batom nos lábios. Brincavam de camarim. fingiam que eram artistas produzindo-se antes de um grande show. Cada dia uma era a estrela e as outras a platéia.
As brincadeiras na casa foram ficando chatas com o correr das semanas. O quarto era apertado e quente para tanta energia que emanava daquela infância feliz. Também brincar no espelho de outra não era a mesma coisa que possuir um espelho só para si. E a dona do quarto sentiu-se invejada, pois possuía um bem a mais que as outras.
Voltaram à rua para as brincadeiras de sempre. A dona do espelho, porém, achou melhor ficar em casa e brincar sozinha com sua imagem refletida. Fazia muitas caretas, olhava-se bem de perto e foi conhecendo cada traço do seu rosto que antes não importava tanto em reparar. Descobrira que se olhasse bem de perto, sem piscar uma vez sequer, até a vista ficar cansada, sua ima-gem ia tomando formas grotescas. os olhos cresciam, o nariz alargava, as orelhas retorciam e o pior, os cabelos pareciam que vinham crescendo do pescoço e das faces. Era só piscar uma vez e pronto, a imagem deformada voltara a ser novamente seu rosto de antes.
A mãe, as amigas, a empregada notaram que ela passava muito tempo no quarto. Reclamaram e pediram que ela retornasse às travessuras de antes. “Brincar sozinha não tem graça”, dizia a mãe. Mas ela estava atônita com sua imagem que deformava e voltava. Não sabia que tinha esse poder de transmutação. Sentia medo, mas o medo fascinado que a impelia a se paralisar nova-mente diante da imagem e se retransfigurar.
Quando cresceram e chegou a hora de ir à cidade maior para estudar, elas se separaram. Veio o vestibular, a faculdade, os casamentos, filhos. Do grupo, duas tornaram-se advogadas, uma médica e a outra farmacêutica. A menina que ganhara da madrinha o espelho mais bonito que elas viram na infância, ninguém tinha notícias. Onde morava, se estaria casada, formada.
Sentada numa cela com mais vinte e duas mulheres, não seria reconhecida pelas amigas do passado. Os cabelos desgrenhados, dentes maltratados, roupa suja. O cabelo estava cortado acima da nuca. Muitos foram os motivos que a levaram até ali. O único espelho da cela era menor que um rosto, quebrado e dividido entre vinte e três mulheres. Mas, ela há tempos não brincava de transformar a sua imagem.
Valha-me, ó alma exterior!
Edwiges Caraciolo Rocha.
O céu daquela noite estava estrelado como nunca, a lua fugia de uma nuvem invejosa que teimava em querer esconder-lhe a beleza, sem sucesso. O luar invadia a alcova de Leôncio e Divina, dispensando candeeiros e lamparinas; com o brilho vindo do infinito só competia a vela acesa dia e noite para Santa Rita das causas impossíveis. Era um chamado ao amor. Ela, a princípio, toda faceira na sua camisola preta de renda que lhe disfarçava o volume das ancas, ficou desanimada quando viu o marido todo pensativo, sentado na poltrona em frente à janela aberta, com um olhar que podia ser tudo menos romântico, apaixonado.
– O que deu em ti, homem de Deus? Estás com uma cara… Até pareces o compadre Jacobina, quando ele não está concordando com algo e fica quieto naquele jeito cáustico de quem acha que sabe mais do que os outros.
– Inteligente bem que ele é, e esperto também. Agora mesmo matutava sobre o que contou pra turma na conversa de ontem à noite. Prendeu a atenção de todos com aquela história de duas almas, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Fiquei cismado com essa tal alma exterior, talvez ele esteja certo, e eu estava aqui a tentar descobrir a minha. Não tenho um bom motivo para ficar assim?
– Que nada, Leôncio, essa história é mais uma esquisitice do compadre, a alma é uma só, e olhe lá. Já é muito ter que dar conta de uma, que dirá de duas, é mais fácil alguém ser desalmado do que possuir duas almas.
– Então, achas que o compadre inventou o caso?
– Não, mas acho que cada um de nós só pode ter a alma que Deus nos deu pra falar com Ele, não se pode ter dois deuses na cabeça senão vira bagunça e o demo começa a atentar. Acho que esse caso do compadre aconteceu porque ele era muito novo e ainda tinha pouco juízo e muita imaginação, onde já se viu uma farda e um espelho fazerem isso tudo? Vem deitar, já é tarde.
– Não estou com sono, vou ficar mais um pouco na janela, admirando o céu que hoje está bonito demais.
Com um resmungo de frustração, Divina aquietou-se na cama. Leôncio mergulhou novamente nos pensamentos. Tem gente que explica tudo com Deus ou santo no meio, mulher é assim, prefere pensar dessa maneira simples, tudo o que não entende direito joga na costa de Deus e não se fala mais nisso, sem contar as coisas que atribui ao diabo. Deve existir explicação melhor para isso que o compadre Jacobina chama de alma exterior, e não sem uma boa dose de acerto. Pensando bem, acho que sei o que é… Um barulho vindo da cozinha interrompeu o raciocínio de Leôncio e fez Divina dar um pulo da cama, porém, era somente o gato Bilubilu que saltara no armário para abocanhar uma ratazana barriguda que procurava alimento para matar a fome e, quem sabe, garantir as vidas aparentemente guardadas no bucho. Resolvido o problema, o casal voltou para o quarto. Divina, desperta do sono, puxou conversa com o marido, na esperança de levá-
lo para a cama.
– Estás mesmo impressionado com a tal alma exterior, hein? De falante viraste casmurro. O que ganhas te com tanto pensar?
– Fez a provocação e caminhou até a frente do enorme espelho de pé, emoldurado com madeira nobre jacarandá e que tomava quase todo o espaço de uma das paredes, dando a visão completa do quarto. A peça havia sido herdada por Divina cuja mãe fora muito vai
dosa, o que podia ser medido também pelo tamanho do espelho. O quarto, que não era pequeno, dava a impressão de ser bem maior pelo efeito ampliador daquele cristal espelhado. Leôncio acompanhou Divina com o olhar e deteve-se atento ao que via no espelho.
– Pode até não se tratar de alma exterior, mas que o compadre tem razão, bem que tem.
Disse isso com os olhos fixos na mulher que ainda se encontrava diante do espelho e a imagem ali refletida se misturava com a do retrato antigo pendurado na parede oposta, no qual ela, jovem ainda, irradiava beleza e sensualidade. Sentiu o corpo tremer.
De repente, a fotografia ganhou movimento e vida na Divina atual, que engordara muitos quilos depois de parir e, mais ainda, com a proximidade do climatério, mas nem por isso perdera a vontade de viver, como dizia ter acontecido com o marido, que não ligava mais para ela como antigamente, e só queria saber de conversa fiada com o compadre Jacobina e três outros amigos da vizinhança.
Leôncio, atônito, parecia não acreditar no que via refletido no espelho, em carne e osso. uma mulher esbelta, abdômen reto, contraído, delineando apenas costelas e músculos; glúteos arredondados e firmes; quadris proporcionais aos seios não tão volumosos, mas carnudos e rijos; a cintura estreita dava à silhueta a sinuosidade própria do sexo frágil; coxas e pernas bem torneadas, sem varizes ou marcas de qualquer espécie; braços delgados e mãos longas e magras, porém, sem a evidência de veias dilatadas; a tez viçosa e aveludada como o pêssego, dava à face o merecido destaque dos seus traços reveladores da ascendência européia, tudo iluminado pelo brilho de olhos azuis e emoldurado por cabelos louros que nada tinham de fios brancos, sequer grisalhos. Era bonita mesmo, muito bonita. A sua Divina de outrora estava de novo ali, ele olhava para o espelho que exprimia tudo e parecia outro, sentiu-se renascer para o amor.
Ainda incrédulo, sacudiu a cabeça como se estivesse espantando lembranças e voltou a mirar demoradamente no espelho a imagem do presente, mas ela persistia travestida de passado, a mesma Divina de antes pedindo para ser amada, e ali estava recolhida no espelho a despertá-lo para o desejo.
– É a minha alma exterior – gritou – encontrei-a! Vem cá minha adorada Divina, quero te beijar e amar, vem, estou sedento de paixão por ti.
Divina nem quis entender, correu para os braços do marido, enquanto pensava. Ora, vivas ao compadre Jacobina. Valha-me, ó alma exterior!
Da janela a lua redonda sorriu e o céu estrelado piscou.
As duas faces de um homem só.
Glauce Chagas.
Ainda se recuperando de parto difícil, perguntava ao doutor, com ares de exaspero, a que era dado o tamanho da cabeça do menino.
– Não chega a ser de tamanha anormalidade, muito pior se nascesse com cabeça incompleta, como tem uns, disse ele.
Aos ouvidos de uma mãe inquieta, aquilo soou como um desrespeito e ética pequena.
Era mesmo muito estranho de físico aquele menino, batizado de Diocleciano, um nome régio, poderoso, no intuito de ministrar-lhe logo um atributo, diante de um futuro incerto. E não é que o cabra, a não ter-se apoiado em pau podre, bem que poderia ter sido mais bem sucedido?
Foi-lhe crescendo o corpo, nada ereto e, junto, bem mais visível, a cabeça. Além de tudo, ia ficando cada vez mais careca, a acentuar, sem cerimônia, com brilho e ondulações, a esquisitice daquela peça. Um pouco de cabelo bem que poderia ajudar a disfarçar essas imperfeições… Ver o diabo encarnado era refletir-se em qualquer superfície com brilho.
No entanto, para ele, qualquer brilho era jóia rara. O peso da deformidade penetrava
lhe nas mais fundas entranhas e lhe deixava numa opacidade a toda prova. Era sempre alvo de gozações por parte dos colegas. Dio, que cabeção!
veloz o dito se fez.
Foi daí que optou por uma vida de misantropo, não queria companhia de ninguém, a não ser de volumes e mais volumes de livros nos quais enfiava sua grande cabeça, dia e noite. Um sentimento de inveja o perseguia, queria ser como o irmão, Juliano, verdadeiro artista de cinema, com uma bela cabeça, de tamanho absolutamente normal. De resto, não precisava ter dele nenhuma inveja, pois se tratava de peça ordinária, à imagem e semelhança do sêmen que o gerou. Era um vagabundo de marca maior e consumia seu tempo cor
rendo atrás das zinhas locais para expor seus dotes de garanhão. Como a matriz, era namorador de piniqueiras. Para duplo desgosto da mãe.
O outro, o Dioclécio, era uma dor de cabeça só, juízo apertado, olhar vesgo. A mãe, única a se preocupar, lhe custeara exames, os mais modernos, em busca de resposta para aquela anomalia. Chegou a ponto de encomendar ao doutor, recém
vindo do Exterior, uma peça metálica, tipo um anel, que o cabeção usava, em graduações, para impedir o contínuo crescimento da cabeça. Todo o dinheiro tirava da costura que fazia, um pouco para matar o tempo vazio de um amor não acha
do e, outro tanto, uma desculpa para não cumprir comas obrigações de mulher. Varava as madrugadas na máquina, em paralelo à luz acesa no quarto de Diocleciano.
Casamento arrumado é sempre uma desgraça. Cleonice lamentava, acreditando piamente que uma maldição puxava outra. o destino de ter um filho daquele.
Alguma compensação haveria de existir. E estava na sabedoria do menino, compatível com seu volume encefálico. Leitor assíduo dos clássicos gregos, percorria com ardor os filósofos, romances russos e os de cavalaria. Longe estava, porém, de um D. Quixote. Não passava de filho de costureira e de pai beberrão. O mal estar causado pelo seu reflexo se inscrevia no disparate entre a aparência, a de fora, e a imagem que tinha de seu interior.
Valera à pena clausura, falta de sol, abafamento das cortinas e almofadões aveludados, onde fora se alojar, a não lhe vazarem nenhuma imagem ou som mundanos. Tudo isso lhe aumentara o nanismo, melhor do corpo que o da alma.
A mãe, orgulhosa dos pendores do filho, convidava a vizinhança, de quando em vez, para ouvi-lo recitar poemas e proferir trechos do teatro grego, a que se sujeitava meio envergonhado, mas, no fundo, com certo prazer. Era uma oportunidade rara de esquecer o nanico, e se ver transfigurado num virtuoso e se tornar um manjar aos viciados nas mesmices de uma cidade pequena.
Mesmo com essas dificuldades, Diocleciano foi ser professor, e parece do bom, sabia muita literatura, enquanto o irmão vivia pegando briga na rua com os amigos cachaceiros. Foi aí que conheceu Leocádia, um bom pedaço de mulher, aluna sua. De literatura, não queria saber nada. Para ele, então, que nunca tivera experiência com mulher, era um engasgo só. Até corria, entre as más linguas, boato da baixa virilidade que ele portava. Ledo engano, porém. Leocádia o rejeitara, no entanto, pelo irmão. Mais uma vez as aparências externas o esmagavam. Casamento apressado e mais uma peça pregada a Dioclécio.
O tempo passou e se percebia claramente tristeza nos olhos da mulher do irmão. O ser que era, fogoso e capeta, parecia apagado da vida. Em flagrante desequilibro, parecia uma quase santa, cheia de conformação com as coisinhas vãs da vida. Morna, sem paixão.
Foi aí que começou a botar o olho em Dioclécio, atraída por um mistério que lhe passava, desses de contos de fadas, única literatura que conhecia. A imaginação foi a mil. Era o príncipe que ia raptá-la ao seu castelo ou algum extraterrestre que havia caído, por descuido, na terra dos outros e a conduziria às galáxias.
Na aula, Leocádia sentava bem à frente a mostrar ao professor seus atributos inescrupulosamente belos. E a literatura foi para os ares.Sangue, sangue, ódio à parte. O limite sufocante da rejeição em que vivia parecia agora uma linha tênue e o laço familiar, na esgarçadura da paixão, estava a se desatar.
Vou pegar essa mulher para mim, é a oportunidade de testar o macho que sou. Recuperarei o fogo dela, que parece que meu irmão não ta dando conta do que possui. Pode ser da cachaça.
Nem precisou de tanta água pra furar a pedra, que não era assim tão dura. Amaram
se na primeira oportunidade. Um amor roxo, ardente. Com gosto de vingança. Todas as tardes, quando o traído estava com os amigos nas barracas da vida. Meses a fio. Sempre entorpecido, Juliano não desconfiava de nada. Alguém estava dando uso ao material que ele desperdiçava. Era ingenuamente alheio à infelicidade da mulher. Até que um dia, os boatos chegaram ressoantes aos seus quase surdos ouvidos. Vingança, ódio eram agora palavras de ordem.
Policia! Chamem a policia, vociferava o dono de um bordel safado, de beira de
estrada, onde jaziam num quarto que não era nada de princesa, dois corpos. Por uma janela mal fechada, agora entreaberta, viam se dois sangues que se misturavam. Obedecendo ao reflexo das últimas luzes do sol, um lado se revelava mais claro, um rosa pink, o outro, vermelho, quase preto, no escuro, bem combinando com o verde
musgo das paredes.
Xi, não sei onde deixei cair o anel que minha mãe mandou buscar fora…, dizia aquele que, em legítima defesa, usara o para não morrer. Não era nenhum príncipe de contos de fadas.
Agora, iria ter o resto da vida pra continuar a ler os seus clássicos. Sozinho, sem nenhum rabo de saia por perto.
A cartomante.
Entrou e sentou
se em uma das cadeiras do salão de beleza que sempre freqüentava. A proprietária, e única funcionária do salão, estava ocupada cortando o cabelo de uma cliente. Ele era o segundo da fila, queria fazer as unhas, pés e mãos. Na espera, pega um número da revista CARAS, nunca faltante em um salão de beleza que se preze, como também a GENTE. Elas, essas revistas, compõem a troca de conversas que acontece entre cortes de cabelos, pinturas, luzes, reflexos, chapinhas, cuidado de unhas de mãos e pés. Num salão de beleza sempre se fica a par da vida que seria privada se não fosse a publicidade conferida pelas mulheres que lá freqüentam.
De repente, uma conversa entre a cabeleireira e a cliente lhe desperta o interesse. Dobra a revista na página que lia e fica atento ao causo. Entre uma tesourada e outra, diz a dona do salão.
Oh, mulher estou tão preocupada com meu filho (seu pequerrucho está com dois anos). Imagine que ele inventou de brincar de varrer e está gostando. De vez em quando, ele vai à cozinha, pega a vassoura e começa a varrer o chão da sala onde estou vendo minha novela das sete. Fico tão aperreada, mulher, vassoura não é brincadeira de menino. Vai que ele se acostuma e passa a brincar de boneca, costurar seus vestidinhos, cozinhar. Não sei o que faça! Até meu pai já notou e falou comigo. Falou para eu ter cuidado com seu neto, pois ele pode virar uma bicha se continuar com essa brincadeira de menina. Cruz credo, mulher, chego até a me arrepiar só em imaginar isso. Já pensou?! Meu filho se rebolando por aí, de sobrancelha feita, unhas pintadas de vermelho, chapinha no cabelo… O que é que vão dizer de mim? Vou morrer de vergonha e tristeza! Meu marido vai dizer que a culpa é toda minha. Ai meu Deus!
Mas mulher, não se desespere! Pra tudo tem jeito, só não tem pra morte. Converse com seu marido. Peça pra ele sair com seu filho, passear com ele. Levar ao bar da esquina quando ele se juntar aos companheiros pra beber uma cerveja e contar aquelas conversas cabeludas que os homens gostam de escutar quando estão bebendo. O que sai das sacanagens que eles fazem com as mulheres! Só escapam as mães deles e… olhe lá! Coisa melhor ainda é seu marido levá-lo ao estádio para assistir um jogo de futebol. Jogo de macho! É uma pancadaria só que aqueles homens se dão e nenhum chora, você sabe, né, homem que é homem não chora. Às vezes o bicho pega e eles brigam de se sangrarem. Oh mulher, isso é uma boa escola pra teu filho. bar e estádio de futebol. Teu menino vai ficar curadinho, nunca mais vai pegar no cabo de uma vassoura, aposto.
Por falar em bicha, mulher, lá onde eu moro, na frente da minha casa tem um pé de gameleira já muito velho. Enorme, tronco grosso, dá uma sombra boa! Quando eu posso, no final de semana, depois do almoço, levo uma cadeira de balanço e sento debaixo dele aproveitando a fresca da tarde. Eu não te conto! De noite, lá pra mais tarde, aparecem umas bichas que ficam debaixo da gameleira fazendo sacanagem com os homens. Dizem que umas até têm peitinhos e se vestem de mulher. Já imaginou?! Á noite, eu e meu marido ficamos na sala vendo as novelas. A gente deixa a luz da sala apagada, economiza, né. Uma vez ou outra, meu marido se levanta, vai pra janela e fica lá olhando na direção da gameleira. Eu chamo pra ele ficar comigo vendo a novela, mas ele diz que prefere ficar na janela, é mais fresco. Não sei o que tanto ele vê naquela janela.
Isso eu não sei, mas certa vez, fui a uma vidente e ela, alisando sua bola de cristal, foi me dizendo, não sei nem por que e nem pra que. Amiga, há mais biba entre o céu e a terra do que suspeita a vã homofobia. Coisa complicada de eu entender. Mas parece que tem a ver com isso que você me falou…